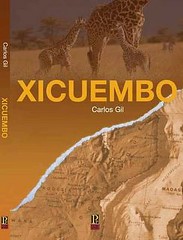Xicuembo (versão 3.0)
memórias & resmungos do Carlos Gil
segunda-feira, maio 30, 2005
Deliciosa a crónica publicitária de João Pereira Coutinho, fls. 2 e 3 da revista Única do Expresso.
Sobremesa de luxo após o tédio da leitura do corpo do jornal.
O Nada, o Eco e a Excelência
Acordar à monotonia, cumprir sociabilidades mínimas e, enfim, pegar na caneta e fechar a porta.
Fica o eco do nada, excelente como sempre.
sábado, maio 28, 2005
O teste do toque
Aquele momento em que há que decidir entre a causa que não se lobriga na ementa habitual e os alarmantes sinais visíveis, os manómetros avulsos medidos em análise têm gráficos esquisitos e confusos na definição de origem. A simulação, o dedo que avança em riste sobre a zona da queixa, a apurar em teste final pela defesa instintiva; o doente tem ‘defesa’ e os gráficos são lidos doutra forma, bisturi para busca visual. O medo à dor gera ‘defesa’ e em busca duma crise de apêndice olhos que já muito viram analisam outras lesões que não aquele que, por prudência é retirado; mas onde não tocam para além da análise superficial por ser matéria em que o corte tem de ser bem medido antes. Foi-o seis meses depois, oito anos atrás mais ou menos vintena, oito anos com outro valor a considerar no teste do toque, se o doente tem ou não ‘defesa’.
O referendo europeu é em Outubro, ir tão descaradamente ao bolso colectivo é um testo de toque que vai atulhar as urgências de crises de urbanidade, da carência duma vivência mais solta e menos amarga. Falo da dose de felicidade que a sociedade nos deve de avanço e bónus quando acordamos, e cuja ausência relapsa hoje se vê cada vez mais em faces minguantes pela contínua responsabilização fiscal numa crise onde, suspeita-se maioritariamente, muito pouca comparticipação se teve. Que vai valer um referendo, nestas condições? O raio do choque tecnológico prometido ameaça atingir, em oportunismos políticos de todos os sabores, a nossa inteligência quanto ao pensar o futuro. Mesmo que aí venha em trezentas páginas, como já li de quem nisso repara, haverá sempre e para meu prazer e conforto quem delas extraia o sumo e o discuta, tudo ao sol; das tais leituras que nos aclaram dúvidas pela racionalidade e clareza da reflexão. E se vai haver que ler sobre o ataque fiscal, em conjunto com o referendo europeu…
Se isto correr mal e ao teste do toque a ‘defesa’ reagir, recordo a experiência pessoal atrás contada: a extracção do apêndice é certa, e o referendo europeu não valerá um chavo sem um estudo cuidado das razões da infecção que tanto incómodo gera e justifica intervenção cirúrgica de emergência. Um bom médico não mente ao doente, mas faz-lhe o teste do toque para aferir a veracidade da queixa.
O referendo europeu é em Outubro, ir tão descaradamente ao bolso colectivo é um testo de toque que vai atulhar as urgências de crises de urbanidade, da carência duma vivência mais solta e menos amarga. Falo da dose de felicidade que a sociedade nos deve de avanço e bónus quando acordamos, e cuja ausência relapsa hoje se vê cada vez mais em faces minguantes pela contínua responsabilização fiscal numa crise onde, suspeita-se maioritariamente, muito pouca comparticipação se teve. Que vai valer um referendo, nestas condições? O raio do choque tecnológico prometido ameaça atingir, em oportunismos políticos de todos os sabores, a nossa inteligência quanto ao pensar o futuro. Mesmo que aí venha em trezentas páginas, como já li de quem nisso repara, haverá sempre e para meu prazer e conforto quem delas extraia o sumo e o discuta, tudo ao sol; das tais leituras que nos aclaram dúvidas pela racionalidade e clareza da reflexão. E se vai haver que ler sobre o ataque fiscal, em conjunto com o referendo europeu…
Se isto correr mal e ao teste do toque a ‘defesa’ reagir, recordo a experiência pessoal atrás contada: a extracção do apêndice é certa, e o referendo europeu não valerá um chavo sem um estudo cuidado das razões da infecção que tanto incómodo gera e justifica intervenção cirúrgica de emergência. Um bom médico não mente ao doente, mas faz-lhe o teste do toque para aferir a veracidade da queixa.
sexta-feira, maio 27, 2005
O relato
Numa mesa um casal troca pequenas carícias, as epidermes dos fémures roçando-se. Na televisão corre mais um jogo de futebol, noutra mesa alguém observa e escreve, contente, que há Vida nesta lusa-depressão.
terça-feira, maio 24, 2005
África à procura de estabilidade
Do jornal moçambicano "Vertical" retiro este texto sobre a crise da Guiné-Bissau. Com leitura mais ampla, talvez com as primeiras linhas a remontarem à Conferência de Berlim, em mil oitocentos e troca o passo. Aí vai:
...........................................................................................................
ITAVE
KARIKO GUDJAGU
KUMBA DE BISSAU
KARIKO GUDJAGU
KUMBA DE BISSAU
A democracia ocidental não é um modelo exemplar para África. Este sistema de democracia ofusca as vontades e as tradições do povo africano. Os africanos podem usar o modelo democrático ocidental como materia para inovar a proposta da democracia que se pretende em África. (H.M.)
Em Bissau precisa-se de macumbas para reconcilhar os “kumbas”. É urgente afugentar os maus espiritos na Guiné de Amilcar Cabral. O povo da Guiné precisa de dirigentes saúdaveis e, não doentios e loucos filosofos. Como é sabido, o problema da Guiné-Bissau é estrutural. Quando se libertou a Guiné dos colonizadores portugueses, o conceito da nação não foi entendido, se houve projecto do Estado- Nação foi mal entendido até confudido com uma associação de etnias incipientes.
Desde 1886, durante o entendimento fronteriço entre Portugal e a França, os habitantes de então o território da Guiné Portuguesa não tiveram uma estrutura de nação, aliás isto pouco interessava ao colonizador. Este conflito prevalece até hoje. Na Guiné não existe o sentimento do Estado-Nação. O que se nota nesse território é a hegemonia étnica. Os lideres são ovacionados na base étnica. Há um paralelismo com aquilo que se passa nos países dos grandes lagos.
O sentimento étnico é tão forte nos dirigentes guineenses, por exemplo: nos ex- presidentes, Kumba Ialá e Nino Vieira, também associado pela ambição do poder. É intrigante por exemplo um ´Kumba´ quase com três títulos universitários que não consegue fazer a leitura real das preocupações do seu país, que no dia 15 do corrente mês anunciou a intenção de reassumir o poder, depois de o Supremo Tribunal ter decidido que a sua renúncia ao cargo de Presidente “não resultou de um acto de liberdade e de vontade”. Maquiavelcamente procura apoio da sua etnia, alegadamente para terminar o seu mandato depois da sua destituição do cargo de presidente, na seguência de um golpe do estado em 2003, aproveitando algumas incoerências da lei eleitoral que o albergou como um dos candidatos as presidenciais de 19 de Junho próximo. Um ´Nino´ derrubado em 1998 também por um golpe do estado, com ambição descabida, de viva voz em querer voltar ao poder na Guiné- Bissau.
O povo guineense deve escolher os seus dirigentes não na base étnica, mas sim pela competência dos seus melhores filhos. A África deve evitar “games” como da Guiné- Bissau. Deve haver ajuda a nivel continental, da CPLP ou regional na materia da legislação para melhorar as constituições dos paises, assim como para reformulações das leis eleitorais para o bem das democracias emergentes.
Comentário
Estou como o outro, e o outro antes, e o outro. Qualquer dia quero contar um espirro de hoje mas o lenço com que me assoo cheira ao bafio do passado. O JT tem razão, mas o que é que eu hei-de fazer? é o que sai, e assim vai andando....
Hollydays
Estou há três dias fechado no quarto. Ontem fui até à porta e, confesso-o, até saí para o passeio quando o sensor ‘sentiu-me’ e abriu-a, convidativamente. Um minuto, dois, três, pisei o passeio e voltei para o hotel, voltei para o quarto donde olho a cidade pela janela. Não a abro, fi-lo no dia da chegada e fechei-a para não a abrir mais, senti-me tonto com os odores que subiam as paredes, as copas das árvores, o cheiro da cidade que trepava e invadia o quarto, invadia-me a mim. Devo partir daqui a quatro dias se aguentar até lá. Sim, se aguentar pois poderá acabar o tabaco no bar do hotel, poderão acontecer mil imprevistos e eu ter de sair à rua, o hotel pegar fogo ou a janela abrir-se, e eu nunca mais voltar. Resisto, não abro a janela nem desço ao passeio mesmo que a porta se abra novamente e eu sinta o seu bafo, uma buzina me chame, o odor suba as paredes onde me escondo e me invada, me agarre e eu já não saia daqui, já passaram três mas ainda faltam quatro.
Cheguei e senti o perigo, a sedução. A minha vontade era saltar do táxi e correr atrás dele, feliz, como se voltasse a menino e isso fosse tão possível como o imaginava pela janela donde olhava, ele a sorrir-me, tentador, sedutor, pronto a fazer-me seu refém sem resgate reivindicado pois eu estou só no meu quarto, fora dele não existo e há uma máscara que me vigia, eu só fui um dois três minutos ao passeio defronte do hotel. Correr atrás do táxi como se dum machimbombo fosse e o bando o perseguisse, e tropeçasse, e caísse e se levantasse e corresse de novo, sempre atrás dele, do táxi que me trouxe no regresso e, com isto tudo, fechei-me no meu quarto no hotel, no bar há cigarros e no quarto há uma máscara com olhos brilhantes que me olham e há uma janela que abri e fechei, na geleira há garrafinhas às cores e eu vou bebendo as cores, os chocolates já os comi todos. Fico à janela a olhá-la, cidade, a adivinhar o seu odor e a lutar com a sua chamada, as pessoas como formigas que correm na avenida entre os carros que lhes buzinam, as árvores que as ocultam e o alcatrão que as descobre. Tudo é o odor e o bafo, senti logo que cheguei o perigo e resisto à sua sedução, não abro a janela e vou ao bar comprar cigarros, um e dois e três no passeio outra vez não. Fecho-me porque quero sair, quero voltar, só vim de férias e era uma promoção. Se abrir a janela e ele subir das paredes do prédio para dentro do meu quarto, onde estou eu e a máscara que me olha, ele agarre-me e eu já não volto, não era essa a promoção.
Na agência de viagens explicaram-me tudo, e tudo bate certo menos o cheiro da terra quente, não falaram nisso. O bafo que me bateu na cara ainda no aeroporto e que me perseguiu pela janela aberta do táxi, eu a correr atrás dele, sandálias trôpegas mas voadoras atrás do pára-choques branco do machimbombo vermelho. Ida e volta e sete dias em meia pensão, seiscentos e quarenta e nove euros. Estou a meio e quero cumprir, já lá vão três e faltam quatro, não abro a janela e não faço um dois três a não ser que acabem os cigarros no bar do hotel. Tive a ida e quero a volta, no meio os sete dias e seis noites de que já vão metade, e eu não saio do quarto, lá fora há buzinas mas só saio se me acabar o tabaco. Já lá vão três dias e faltam quatro, faço e refaço a conta, marco riscos imaginários nas paredes, já lá vão três dias e faltam quatro e daqui não saio, quarto, senão perco-me neste cheiro que sobe as paredes e persegue-me quando corro atrás do táxi, e já daqui não saio, cidade, um dois três minutos, todos os que me faltam até o relógio parar.
Deito-me de novo e olho as paredes, o tecto, a decoração usual de qualquer hotel; tento na sua banalidade esquecer a janela e o que dela vejo, antes a do táxi e agora a do hotel, meu quarto, estas paredes anónimas onde a máscara que serve de candeeiro é a nota típica que me vigia, esguia na sua madeira trabalhada em cortes simétricos, poderosos. Tem os olhos em chamas de luz que me olham de dia e noite, e eu julgo vê-los sorrir sadicamente quando vou à janela espreitar as formigas, o cheiro, as copas, a rua onde vivem os que estão agarrados ao bafo quente, sempiternas sandálias que correm atrás do pára-choques, caiem e levantam-se, caiem e levantam-se, ida e volta, já vim e já passou metade, sete dias e seis noites e vou voltar, não abro a janela e não deixo o bafo quente invadir-me, cidade.
Vou cumprir o meu contrato com a agência. Sete dias no quarto donde não saio a não ser que se acabe o tabaco. Antes a vinda depois a ida, seiscentos e quarenta e nove euros e paguei adiantado, não houve um cêntimo que me falasse no bafo quente na pele, de mim a correr atrás do táxi e do machimbombo, do calção e das sandálias. Daquela vez em que estive um dois três no passeio, abri ainda mais a camisa e o meu peito escanzelado, as costelas nítidas na pele tão branca, foi lambido pelo bafo e, confesso, vi a máscara sorrir quando pensei ir até ao carreiro das formigas, perder-me no seu meio, atravessar a rua e ouvir as buzinas, passear sob as copas e correr a cidade, as sandálias voadoras a viajarem ao tempo em que o bafo nascia e morria conforme eu acordava ou adormecia. Quando o odor da terra quente, da chuva na terra quente, não era estranho e a sua sedução era banal e não trepava as paredes até à janela fechada, os papéis vazios dos chocolates e as cores sumidas nas garrafinhas, a máscara sempre a olhar-me, a vigiar-me, a seduzir-me, os olhos em línguas brilhantes, ida e volta, o bafo quente que nenhum cêntimo pagou e que a agência não falou, faltam quatro dias e três noites e eu vou-me embora, não abro a janela, um dois três o regresso terminou e eu vou voltar, não abro a janela ao bafo quente que sobe às árvores e daí à janela, não agarro o pára-choques, adeus máscara, adeus cidade.
Cheguei e senti o perigo, a sedução. A minha vontade era saltar do táxi e correr atrás dele, feliz, como se voltasse a menino e isso fosse tão possível como o imaginava pela janela donde olhava, ele a sorrir-me, tentador, sedutor, pronto a fazer-me seu refém sem resgate reivindicado pois eu estou só no meu quarto, fora dele não existo e há uma máscara que me vigia, eu só fui um dois três minutos ao passeio defronte do hotel. Correr atrás do táxi como se dum machimbombo fosse e o bando o perseguisse, e tropeçasse, e caísse e se levantasse e corresse de novo, sempre atrás dele, do táxi que me trouxe no regresso e, com isto tudo, fechei-me no meu quarto no hotel, no bar há cigarros e no quarto há uma máscara com olhos brilhantes que me olham e há uma janela que abri e fechei, na geleira há garrafinhas às cores e eu vou bebendo as cores, os chocolates já os comi todos. Fico à janela a olhá-la, cidade, a adivinhar o seu odor e a lutar com a sua chamada, as pessoas como formigas que correm na avenida entre os carros que lhes buzinam, as árvores que as ocultam e o alcatrão que as descobre. Tudo é o odor e o bafo, senti logo que cheguei o perigo e resisto à sua sedução, não abro a janela e vou ao bar comprar cigarros, um e dois e três no passeio outra vez não. Fecho-me porque quero sair, quero voltar, só vim de férias e era uma promoção. Se abrir a janela e ele subir das paredes do prédio para dentro do meu quarto, onde estou eu e a máscara que me olha, ele agarre-me e eu já não volto, não era essa a promoção.
Na agência de viagens explicaram-me tudo, e tudo bate certo menos o cheiro da terra quente, não falaram nisso. O bafo que me bateu na cara ainda no aeroporto e que me perseguiu pela janela aberta do táxi, eu a correr atrás dele, sandálias trôpegas mas voadoras atrás do pára-choques branco do machimbombo vermelho. Ida e volta e sete dias em meia pensão, seiscentos e quarenta e nove euros. Estou a meio e quero cumprir, já lá vão três e faltam quatro, não abro a janela e não faço um dois três a não ser que acabem os cigarros no bar do hotel. Tive a ida e quero a volta, no meio os sete dias e seis noites de que já vão metade, e eu não saio do quarto, lá fora há buzinas mas só saio se me acabar o tabaco. Já lá vão três dias e faltam quatro, faço e refaço a conta, marco riscos imaginários nas paredes, já lá vão três dias e faltam quatro e daqui não saio, quarto, senão perco-me neste cheiro que sobe as paredes e persegue-me quando corro atrás do táxi, e já daqui não saio, cidade, um dois três minutos, todos os que me faltam até o relógio parar.
Deito-me de novo e olho as paredes, o tecto, a decoração usual de qualquer hotel; tento na sua banalidade esquecer a janela e o que dela vejo, antes a do táxi e agora a do hotel, meu quarto, estas paredes anónimas onde a máscara que serve de candeeiro é a nota típica que me vigia, esguia na sua madeira trabalhada em cortes simétricos, poderosos. Tem os olhos em chamas de luz que me olham de dia e noite, e eu julgo vê-los sorrir sadicamente quando vou à janela espreitar as formigas, o cheiro, as copas, a rua onde vivem os que estão agarrados ao bafo quente, sempiternas sandálias que correm atrás do pára-choques, caiem e levantam-se, caiem e levantam-se, ida e volta, já vim e já passou metade, sete dias e seis noites e vou voltar, não abro a janela e não deixo o bafo quente invadir-me, cidade.
Vou cumprir o meu contrato com a agência. Sete dias no quarto donde não saio a não ser que se acabe o tabaco. Antes a vinda depois a ida, seiscentos e quarenta e nove euros e paguei adiantado, não houve um cêntimo que me falasse no bafo quente na pele, de mim a correr atrás do táxi e do machimbombo, do calção e das sandálias. Daquela vez em que estive um dois três no passeio, abri ainda mais a camisa e o meu peito escanzelado, as costelas nítidas na pele tão branca, foi lambido pelo bafo e, confesso, vi a máscara sorrir quando pensei ir até ao carreiro das formigas, perder-me no seu meio, atravessar a rua e ouvir as buzinas, passear sob as copas e correr a cidade, as sandálias voadoras a viajarem ao tempo em que o bafo nascia e morria conforme eu acordava ou adormecia. Quando o odor da terra quente, da chuva na terra quente, não era estranho e a sua sedução era banal e não trepava as paredes até à janela fechada, os papéis vazios dos chocolates e as cores sumidas nas garrafinhas, a máscara sempre a olhar-me, a vigiar-me, a seduzir-me, os olhos em línguas brilhantes, ida e volta, o bafo quente que nenhum cêntimo pagou e que a agência não falou, faltam quatro dias e três noites e eu vou-me embora, não abro a janela, um dois três o regresso terminou e eu vou voltar, não abro a janela ao bafo quente que sobe às árvores e daí à janela, não agarro o pára-choques, adeus máscara, adeus cidade.
As formigas
Parem a ouvi-las um pouco: dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Nos intervalos assinam-se petições para isto e para aquilo, e pratica-se o Bem e o Mal. Mas são intervalos, o recorrente é dinheiro, dinheiro.
domingo, maio 22, 2005
Levante-se o réu!
A tarde de sábado nada prometia em especial e no grupo que se formara no bar do hotel Moçambicano o consenso foi-se formando. Sobre a mesa e ao lado das bicas que o mestre Abílio ia servindo, sempre muito elegante na sua magreza com o lacinho negro na camisa branca, casaco azul, já só restavam duas propostas como aproveitáveis para salvar a tarde, que a noite já era sempre outra conversa e poderia depender e muito da forma de passá-la, a tarde. Há festas que nascem diariamente e nos locais mais insuspeitos: havia que circular para gozar o dia e preparar a noite. Portanto era: umas voltas de carro por outros cafés à procura de novas doutros grupos, eventualmente visitar um ou outro à porta de quem passássemos e desse para entrar e ouvir uns lp’s, ou ir ao cinema pois havia sempre um filme ou outro que valeria a pena ver e, lá, pela fauna sabiam-se muitas novidades sobre a flora. Nem me lembro em qual votei mas o certo é que a última ganhou e lotamos o meu carro rumo à baixa da cidade, descendo a antiga av. Anchieta de forma a tomar-se a da República (esta hoje av. 25 de Setembro, ao que penso) por detrás do Bazar, perto do restaurante Telavive e depois da cervejaria Nacional. A intenção era de passar em frente ao Scala e ver os cartazes e o tamanho da fila, idem para o Avenida, Dicca e Estúdio 222.
Como nas salas de cinema não se fuma, e lá dentro ou cá fora é também proibido fumar cigarros feitos à mão e de conteúdo exótico, o carro parecia um cinzeiro ambulante quando virou a esquina já contada. Éramos cinco, ia cheio. Não sei bem quem lá ia mas havia mais de um encartado, e eu não era nenhum deles. Talvez pela névoa interna ou pela imunidade que a idade imagina, quando entrei na avenida da Republica e vimos o auto-stop ao fundo, ainda distante, visível pelo aparato pois era feito de ambos os lados da avenida, os comentários não divergiram muito do já habitual resmungo à seca que eram ou auto-stop’s policiais, agora acrescidas de revistas aos carros, até ao prudente conselho de apagar as beatas e fechar as janelas. Pensando bem, além de ter podido estacionar e mudar-se de condutor, poderia ter feito entrada pelo parque do bazar e um desvio para a av. D.Luís, até uma inversão de marcha sem nenhum problema para além dos normais de trânsito. Mas foi com postura inocente e ar cândido que o conduzi a Daihatsu 1000 Station para a boca do lobo, melhor contando a palma da mão erguida da camarada Amina Daúde, moçoila com umas trancinhas na carapinha e voluptuosamente excessiva para a apertada farda azul que tinha, ainda a cheirar a nova. E bastante aborrecida no momento, facto que veio a originar a segunda parte desta história. O carro estacionado antes do meu e também sob seu controlo tinha um problema com o fecho da bagageira, que não cedia a nenhuma investida, com ou sem chave. Não abria, e ela e o condutor já estavam meios esquerdos um com o outro. Um porque aquilo não abria de forma nenhuma, a outra porque o queria ver aberto.
Em tão sorridente cenário dei-lhe um montão de cartões para a mão na esperança de a quantidade ocultar as carências. As coisas estavam portanto bem encaminhadas, e já havia quem olhasse para o relógio e fizesse contas ao tempo que duram os documentários antes do filme. Entretanto a camarada Amina dedicava mais atenção à zanga com o meu colega da frente, e já era ela que investia sobre a impávida fechadura e sem nenhum sucesso, os meus papéis na outra mão. Pensei estar aí a oportunidade e aproximei-me do carro da mala avariada para namorar-lhe a devolução da minha papelada e ordem para recuperar o já anunciado atraso para a matiné, quando a situação descambou como tem tendência a descambar o que anda torto. Frustrada na sua missão fiscalizadora do outro mas reconhecidamente impotente para reclamar mais pois aquilo não abria de maneira alguma, já eu estava de mão estendida quando dos papéis se começam a levantar situações confusas, dúvidas legais, e sobrou para mim o ímpeto policial, legalista, eu comecei a assobiar baixinho quando ela começou a olhar para os papéis um por um e a perguntar pela essencial ‘carta’, que não existia e nunca ninguém antes me pedira. Lá no meio do livrete do carro e dum cartão de sócio dum clube qualquer, para aí com ano e meio de quotas de atraso, estava bem dobradinha e já com honoráveis vincos uma declaração duma escola de condução que confirmava a minha inscrição e declarava-me autorizado a conduzir ligeiros ao lado dum encartado, para aprendizagem. Nem o Nixon nem o Brejnev tinham documentos mais dúbios que eu, e são malta que jurou até morrer ter sempre vivido na maior legalidade possível. A declaração tinha data que atestava a minha veterania nessa árdua aprendizagem, e até tinha o recibo do pagamento da primeira prestação, indispensável que fora para que a dita fosse emitida.
Mas ela, camarada polícia Amina Daúde como depois li nos bilhetinhos que amorosamente me dedicou e autografou, estava sem paciência para decidir sobre questões filosóficas que fossem além da viabilidade de pegar numa chave de rodas e escaqueirar a traseira do outro carro até que a bagageira desistisse a abrisse a boca, e como estava com vontade de reinvestir sobre a maldita aviou-me com uma multa e com uma espécie de notificação para ir à morada tal, logo na segunda-feira seguinte, explicar melhor essa história meio esquisita. Bem, o tal vago terceiro que tinha de ser encartado lá passou para o banco da frente e lá fui a resmungar para o cinema, eles com hilariantes piadas mascaradas de palavras de conforto, eu a ver a vidinha complicada. Ora bem, no escritório falei com a Becas que era a nova chefe de secretaria e lá me apresentei penteadinho e de camisa lavada, até fui no carro pois de mota podia cair e sujar-me. Hoje penso que seria dos chamados ‘tribunais de polícia’ que julgam causas menores tais como estas infracções de código da estrada. Era na zona perto do Rádio Clube, início do bairro da Maxaquene. Encaminhado ao que ia, havia uma espécie de bicha para dar o nome, etc, etecéteras que um funcionário ia martelando na burocrática máquina de escrever. Ainda éramos bastantes do lado de cá, e aqui vou abordar a questão racial que então era pormenor muito em discussão, fazia-se sentir no dia-a-dia para além do vulgar “eu sou branco e tu és negro, gordo e baixo ou alto e magro, ok, já vimos isso vamos ao resto”. As velhas discussões acrescidas pelo momento revolucionário pós-independência nacional que se vivia. Eu era o único branco na sala, ambos os lados considerados.
Lá chega a minha vez, e estava embrenhado a contar a minha vida em números e moradas ao zeloso escrivão quando me apercebo que está alguém ao meu lado, atento ao que ouve e a tentar ler pouco discretamente a folha que já se dobrava sobre o rolo da máquina e descaía para a secretária. É outro de raça branca, um rapaz mais ou menos da minha idade Olhamo-nos e eu, que até então estivera para ali mudo a ler o jornal de parede e os editais pendurados até começar a debitar às perguntas do escrivão, perguntei-lhe, confesso que com olhar solidário: “- é por não ter carta. e tu?”. Não gostei do olhar dele, mas esse e o silêncio de resposta foram rapidamente esquecidos porque o questionário ainda não terminara, e também porque ele desapareceu como aparecera. Quando olhei de novo, já se sumira. E lá fomos para a sala do julgamento. Chamaram-nos todos ao mesmo tempo e lá nos sentamos à espera que a sessão começasse. Talvez uns catorze ou quinze, à volta disso. Pelo que já perceberam todos os outros réus eram de raça negra, e esclareço que a maioria era tão jovem que as suas caras indiciavam ainda serem mais novos que eu, que então tinha vinte anos e já fora emancipado para tirar a carta de condução mas que nunca sentara o inhófe num carro de ensino.
A sala tinha bancos corridos cá atrás, uma paliçada para lá do meio e, ao fundo e sobre um estrado em madeira como os das salas de aulas antigas, a douta secretária vaga à espera do juiz, que surgiu aperaltado com a primeira toga que vi ao vivo na minha vida. Era ‘ele’, o outro rapaz branco, o curioso de poucas falas, provavelmente um dos estudantes de direito que foram promovidos ad-hoc a juízes de causas menores após a sangria geral de quadros no sistema público que o fim da administração colonial portuguesa trouxe a Moçambique. Estava a começar a ter a sensação de que esta história toda começara mal e estava com sérias vontade de assim continuar, de render juros em memórias prolongadas, enfim, já me coçava. É feita a chamada individual e das perguntas e respostas extraio que o resto da malta trabalha toda em oficinas e contam que ganham uma miséria, eu sou o único empregado num escritório e ganho a fortuna de sete contos por mês – já o confessara ao tal da máquina de picotar e era com espanto que ouvia os ordenados dos outros e achava-me rico sem nunca antes de tal fortuna me ter apercebido. Emprego de luxo ao lado das roupas com manchas de óleo. E não se esqueça que era o único português e branco, eles eram todos moçambicanos e negros. Como a tal cereja que não deve faltar em cima de bolo que se preze, o caríssimo juiz podia estar mal impressionado sobre a minha curiosidade sobre a sua personalidade criminosa. Estava tramado...
Foi com este ânimo que ajeitei a camisa para dentro das calças e passei a mão pelos caracóis e avancei para o homem do bibe preto, quando chegou a minha vez. Optimista e diplomata, ter-lhe-ei feito até um pequeno aceno de velhos conhecidos, e cá de baixo terei piscado o olho lá para cima, tentando ocultar que já estava a suar fininho, a minha estreia judicial estava mesmo a correr mal. Os olhos dele gelavam quando olhou para mim, de cima para baixo e voltaram a subir, e disse-me e eu regelei: “- Isso são maneiras de apresentar-se num Tribunal?” Impossível. Era impossível. Primara como se fosse a um baile, até tivera o cuidado de limpar o pó do assento da carrinha para não me sujar a caminho do tribunal, e não viera na motorizada por isso mesmo. Olhei-me todo, até conferi se a braguilha estava ou não fechada, e mirei os sapatos; tudo normal, mais do que bom e até podia ir casar-me. A minha cara de espanto era tão natural quando lhe voltei o olhar que, então, ele apontou-me a razão lobrigada para abrir a lide com capote de ouro, e declarou em voz de indignação autoritária: “- O botão! Aperte-o!” E apontava para a camisa, que tinha não o vulgar um mas sim dois botões desapertados. Aquele velho hábito de justificar com entrada de ar e deixar a peitaça à mostra das pitas, o segundo botão desapertado... se não fosse um tribunal até um terceiro tinha seguido igual caminho, digo, abertura.
Bem, lá o apertei e não sei quantos tormentos legais depois ouvi a pena. Uma quantidade enorme de dias de prisão (mentalmente já estava a fazer contas às férias que seria forçado a antecipar e gastar), no fim explicado que eram dias remíveis ao pagamento duma multa, um dinheirão por cada dia. No fim de tudo e da toga findar o seu tenebroso voo, juntamo-nos todos junto ao escrivão que fez as contas individualmente a cada um, mais as custas. Calhou-me quatro contos e quinhentos, o que me deixou teso e a ganir um mês inteiro. A malta das oficinas, colegas de crime mas não de profissão, ficou com uma média de um terço do que eu tive de pagar daí a uns dias. Raios partam as manchas de óleo na roupa, a descabida pretensa solidariedade racial, e a ditadura do proletariado que impunha complexos de pequeno-burguês a quem não trabalha a terra ou nos caminhos-de-ferro. E raios partam a camarada Amina Daúde pois essa malandra das trancinhas é que teve a culpa daquilo tudo. Vinguei-me aqui, numa das historietas do Demmis e da Amélia. Ainda não foi promovida e continua na esquadra da Baixa a fazer o giro, como castigo condenei-a a eternos pés-chatos.
Uma nota final pois lembrei-me dela na busca de hipótese de localização do tal ‘tribunal de policia’ da Maxaquene. Estou em crer que é no mesmo velho edifício de traça colonial onde funcionava uma repartição pública tipo conservatória de registo civil, e onde até 30 de Setembro de 75 se entregavam as declarações de opção de nacionalidade e se instruíam os processos de naturalização moçambicana. Foi lá, nos últimos dias, que entreguei a minha opção, ainda tenho guardado o recibo dos emolumentos. Nasci em Lisboa mas vivia em LM desde os sete anos. Foi essa a minha decisão do coração. Que aconteceu em tão pouco tempo que, em Dezembro, já estava inscrito na consulado português e com passaporte requerido, e tinha feito a carta de demissão no emprego, os lp’s e os livros prometidos dar a um amigo? É o tal período onde o som das dúvidas tornou-se-me insuportável, e em Janeiro de 76 tomei um avião à descoberta de mais mundo.
Como nas salas de cinema não se fuma, e lá dentro ou cá fora é também proibido fumar cigarros feitos à mão e de conteúdo exótico, o carro parecia um cinzeiro ambulante quando virou a esquina já contada. Éramos cinco, ia cheio. Não sei bem quem lá ia mas havia mais de um encartado, e eu não era nenhum deles. Talvez pela névoa interna ou pela imunidade que a idade imagina, quando entrei na avenida da Republica e vimos o auto-stop ao fundo, ainda distante, visível pelo aparato pois era feito de ambos os lados da avenida, os comentários não divergiram muito do já habitual resmungo à seca que eram ou auto-stop’s policiais, agora acrescidas de revistas aos carros, até ao prudente conselho de apagar as beatas e fechar as janelas. Pensando bem, além de ter podido estacionar e mudar-se de condutor, poderia ter feito entrada pelo parque do bazar e um desvio para a av. D.Luís, até uma inversão de marcha sem nenhum problema para além dos normais de trânsito. Mas foi com postura inocente e ar cândido que o conduzi a Daihatsu 1000 Station para a boca do lobo, melhor contando a palma da mão erguida da camarada Amina Daúde, moçoila com umas trancinhas na carapinha e voluptuosamente excessiva para a apertada farda azul que tinha, ainda a cheirar a nova. E bastante aborrecida no momento, facto que veio a originar a segunda parte desta história. O carro estacionado antes do meu e também sob seu controlo tinha um problema com o fecho da bagageira, que não cedia a nenhuma investida, com ou sem chave. Não abria, e ela e o condutor já estavam meios esquerdos um com o outro. Um porque aquilo não abria de forma nenhuma, a outra porque o queria ver aberto.
Em tão sorridente cenário dei-lhe um montão de cartões para a mão na esperança de a quantidade ocultar as carências. As coisas estavam portanto bem encaminhadas, e já havia quem olhasse para o relógio e fizesse contas ao tempo que duram os documentários antes do filme. Entretanto a camarada Amina dedicava mais atenção à zanga com o meu colega da frente, e já era ela que investia sobre a impávida fechadura e sem nenhum sucesso, os meus papéis na outra mão. Pensei estar aí a oportunidade e aproximei-me do carro da mala avariada para namorar-lhe a devolução da minha papelada e ordem para recuperar o já anunciado atraso para a matiné, quando a situação descambou como tem tendência a descambar o que anda torto. Frustrada na sua missão fiscalizadora do outro mas reconhecidamente impotente para reclamar mais pois aquilo não abria de maneira alguma, já eu estava de mão estendida quando dos papéis se começam a levantar situações confusas, dúvidas legais, e sobrou para mim o ímpeto policial, legalista, eu comecei a assobiar baixinho quando ela começou a olhar para os papéis um por um e a perguntar pela essencial ‘carta’, que não existia e nunca ninguém antes me pedira. Lá no meio do livrete do carro e dum cartão de sócio dum clube qualquer, para aí com ano e meio de quotas de atraso, estava bem dobradinha e já com honoráveis vincos uma declaração duma escola de condução que confirmava a minha inscrição e declarava-me autorizado a conduzir ligeiros ao lado dum encartado, para aprendizagem. Nem o Nixon nem o Brejnev tinham documentos mais dúbios que eu, e são malta que jurou até morrer ter sempre vivido na maior legalidade possível. A declaração tinha data que atestava a minha veterania nessa árdua aprendizagem, e até tinha o recibo do pagamento da primeira prestação, indispensável que fora para que a dita fosse emitida.
Mas ela, camarada polícia Amina Daúde como depois li nos bilhetinhos que amorosamente me dedicou e autografou, estava sem paciência para decidir sobre questões filosóficas que fossem além da viabilidade de pegar numa chave de rodas e escaqueirar a traseira do outro carro até que a bagageira desistisse a abrisse a boca, e como estava com vontade de reinvestir sobre a maldita aviou-me com uma multa e com uma espécie de notificação para ir à morada tal, logo na segunda-feira seguinte, explicar melhor essa história meio esquisita. Bem, o tal vago terceiro que tinha de ser encartado lá passou para o banco da frente e lá fui a resmungar para o cinema, eles com hilariantes piadas mascaradas de palavras de conforto, eu a ver a vidinha complicada. Ora bem, no escritório falei com a Becas que era a nova chefe de secretaria e lá me apresentei penteadinho e de camisa lavada, até fui no carro pois de mota podia cair e sujar-me. Hoje penso que seria dos chamados ‘tribunais de polícia’ que julgam causas menores tais como estas infracções de código da estrada. Era na zona perto do Rádio Clube, início do bairro da Maxaquene. Encaminhado ao que ia, havia uma espécie de bicha para dar o nome, etc, etecéteras que um funcionário ia martelando na burocrática máquina de escrever. Ainda éramos bastantes do lado de cá, e aqui vou abordar a questão racial que então era pormenor muito em discussão, fazia-se sentir no dia-a-dia para além do vulgar “eu sou branco e tu és negro, gordo e baixo ou alto e magro, ok, já vimos isso vamos ao resto”. As velhas discussões acrescidas pelo momento revolucionário pós-independência nacional que se vivia. Eu era o único branco na sala, ambos os lados considerados.
Lá chega a minha vez, e estava embrenhado a contar a minha vida em números e moradas ao zeloso escrivão quando me apercebo que está alguém ao meu lado, atento ao que ouve e a tentar ler pouco discretamente a folha que já se dobrava sobre o rolo da máquina e descaía para a secretária. É outro de raça branca, um rapaz mais ou menos da minha idade Olhamo-nos e eu, que até então estivera para ali mudo a ler o jornal de parede e os editais pendurados até começar a debitar às perguntas do escrivão, perguntei-lhe, confesso que com olhar solidário: “- é por não ter carta. e tu?”. Não gostei do olhar dele, mas esse e o silêncio de resposta foram rapidamente esquecidos porque o questionário ainda não terminara, e também porque ele desapareceu como aparecera. Quando olhei de novo, já se sumira. E lá fomos para a sala do julgamento. Chamaram-nos todos ao mesmo tempo e lá nos sentamos à espera que a sessão começasse. Talvez uns catorze ou quinze, à volta disso. Pelo que já perceberam todos os outros réus eram de raça negra, e esclareço que a maioria era tão jovem que as suas caras indiciavam ainda serem mais novos que eu, que então tinha vinte anos e já fora emancipado para tirar a carta de condução mas que nunca sentara o inhófe num carro de ensino.
A sala tinha bancos corridos cá atrás, uma paliçada para lá do meio e, ao fundo e sobre um estrado em madeira como os das salas de aulas antigas, a douta secretária vaga à espera do juiz, que surgiu aperaltado com a primeira toga que vi ao vivo na minha vida. Era ‘ele’, o outro rapaz branco, o curioso de poucas falas, provavelmente um dos estudantes de direito que foram promovidos ad-hoc a juízes de causas menores após a sangria geral de quadros no sistema público que o fim da administração colonial portuguesa trouxe a Moçambique. Estava a começar a ter a sensação de que esta história toda começara mal e estava com sérias vontade de assim continuar, de render juros em memórias prolongadas, enfim, já me coçava. É feita a chamada individual e das perguntas e respostas extraio que o resto da malta trabalha toda em oficinas e contam que ganham uma miséria, eu sou o único empregado num escritório e ganho a fortuna de sete contos por mês – já o confessara ao tal da máquina de picotar e era com espanto que ouvia os ordenados dos outros e achava-me rico sem nunca antes de tal fortuna me ter apercebido. Emprego de luxo ao lado das roupas com manchas de óleo. E não se esqueça que era o único português e branco, eles eram todos moçambicanos e negros. Como a tal cereja que não deve faltar em cima de bolo que se preze, o caríssimo juiz podia estar mal impressionado sobre a minha curiosidade sobre a sua personalidade criminosa. Estava tramado...
Foi com este ânimo que ajeitei a camisa para dentro das calças e passei a mão pelos caracóis e avancei para o homem do bibe preto, quando chegou a minha vez. Optimista e diplomata, ter-lhe-ei feito até um pequeno aceno de velhos conhecidos, e cá de baixo terei piscado o olho lá para cima, tentando ocultar que já estava a suar fininho, a minha estreia judicial estava mesmo a correr mal. Os olhos dele gelavam quando olhou para mim, de cima para baixo e voltaram a subir, e disse-me e eu regelei: “- Isso são maneiras de apresentar-se num Tribunal?” Impossível. Era impossível. Primara como se fosse a um baile, até tivera o cuidado de limpar o pó do assento da carrinha para não me sujar a caminho do tribunal, e não viera na motorizada por isso mesmo. Olhei-me todo, até conferi se a braguilha estava ou não fechada, e mirei os sapatos; tudo normal, mais do que bom e até podia ir casar-me. A minha cara de espanto era tão natural quando lhe voltei o olhar que, então, ele apontou-me a razão lobrigada para abrir a lide com capote de ouro, e declarou em voz de indignação autoritária: “- O botão! Aperte-o!” E apontava para a camisa, que tinha não o vulgar um mas sim dois botões desapertados. Aquele velho hábito de justificar com entrada de ar e deixar a peitaça à mostra das pitas, o segundo botão desapertado... se não fosse um tribunal até um terceiro tinha seguido igual caminho, digo, abertura.
Bem, lá o apertei e não sei quantos tormentos legais depois ouvi a pena. Uma quantidade enorme de dias de prisão (mentalmente já estava a fazer contas às férias que seria forçado a antecipar e gastar), no fim explicado que eram dias remíveis ao pagamento duma multa, um dinheirão por cada dia. No fim de tudo e da toga findar o seu tenebroso voo, juntamo-nos todos junto ao escrivão que fez as contas individualmente a cada um, mais as custas. Calhou-me quatro contos e quinhentos, o que me deixou teso e a ganir um mês inteiro. A malta das oficinas, colegas de crime mas não de profissão, ficou com uma média de um terço do que eu tive de pagar daí a uns dias. Raios partam as manchas de óleo na roupa, a descabida pretensa solidariedade racial, e a ditadura do proletariado que impunha complexos de pequeno-burguês a quem não trabalha a terra ou nos caminhos-de-ferro. E raios partam a camarada Amina Daúde pois essa malandra das trancinhas é que teve a culpa daquilo tudo. Vinguei-me aqui, numa das historietas do Demmis e da Amélia. Ainda não foi promovida e continua na esquadra da Baixa a fazer o giro, como castigo condenei-a a eternos pés-chatos.
Uma nota final pois lembrei-me dela na busca de hipótese de localização do tal ‘tribunal de policia’ da Maxaquene. Estou em crer que é no mesmo velho edifício de traça colonial onde funcionava uma repartição pública tipo conservatória de registo civil, e onde até 30 de Setembro de 75 se entregavam as declarações de opção de nacionalidade e se instruíam os processos de naturalização moçambicana. Foi lá, nos últimos dias, que entreguei a minha opção, ainda tenho guardado o recibo dos emolumentos. Nasci em Lisboa mas vivia em LM desde os sete anos. Foi essa a minha decisão do coração. Que aconteceu em tão pouco tempo que, em Dezembro, já estava inscrito na consulado português e com passaporte requerido, e tinha feito a carta de demissão no emprego, os lp’s e os livros prometidos dar a um amigo? É o tal período onde o som das dúvidas tornou-se-me insuportável, e em Janeiro de 76 tomei um avião à descoberta de mais mundo.
Como se recebe uma boa notícia:
Assim. Gilda de Vasconcelos, poetisa de origem moçambicana a residir em Torres Vedras, terminou mais uma colecção daquelas páginas onde as letras falam tanto...
A seguir, sempre. Garantias de que os amanhãs valem a pena, há quem trabalhe para connosco partilhar o seu fruto, beleza - e escrita, ainda por cima.
Para ganhar
Como não acerto no Euro Milhões (mas não desisto, eu e mais não sei quantos milhões de colegas), para este Campenato do Melhor Futebol da Europa, dixit porque já o li e mais duma vez, um gajo tem de se habituar... a minha aposta é esta.
Jogo pelo seguro, é a clara favorita e estou chateado por não me ter saído o Euro Milhões.
sábado, maio 21, 2005
Eu agradeço
a todos os colegas de bloganço que publicitaram o meu livro e, mais que isso, deixaram-me palavras bonitas.
Por ordem alfabética, e que me perdoe quem também o tenha feito e eu não me apercebi; como deixei de ter contadores e acessórios não imagino quem cá vem e menos ainda de onde vem, além de que as minhas visitas fiscais não conseguem ser regulares a todos os tributados.
A Sebenta
África de todos os sonhos
Água Lisa (2)
Blog do Belenenses
Chuinga
Chora-que-logo-bebes
Forever Pemba
Ma-schamba
Malaposta
O blog do Alex
Provisório (fundado em 2004)
Vemos, Ouvimos e Lemos
Por ordem alfabética, e que me perdoe quem também o tenha feito e eu não me apercebi; como deixei de ter contadores e acessórios não imagino quem cá vem e menos ainda de onde vem, além de que as minhas visitas fiscais não conseguem ser regulares a todos os tributados.
A Sebenta
África de todos os sonhos
Água Lisa (2)
Blog do Belenenses
Chuinga
Chora-que-logo-bebes
Forever Pemba
Ma-schamba
Malaposta
O blog do Alex
Provisório (fundado em 2004)
Vemos, Ouvimos e Lemos
Do coração, o meu Muito Obrigado a todos.
Regresso de letras irreverentes
Uma agradável notícia: o blogue Divã da Queca voltou à actividade, Lana Luna, Márcia Paixão & Cª. Nos seus tempos áureos e antes do 'desgaste blogueiro' fazer das suas (ainda para mais à volta dum tema que... esgota?) o Divã era das minhas leituras favoritas e para além da razão mangussal, pois lá escrevia-se bom português e tratava-se um tema sujeito à palavra fácil com elegância, sem falsas facilidades brejeiras.
Ainda está muito longe do que foi, mas acredito e desejo que lá irá. Na revisão tributária que se anuncia em paralelo com a governamental (toda a imprensa dixit...) sairá das catacumbas dos 'impostos prescritos' e passará a pagar imposto. Que a minha sede de boa leitura é tributada, não concedo amnistias fiscais nem enroladas em lençóis de cetim.
O optimismo
É a grande carência nacional. Na imprensa as parangonas gritam e empolam o negativo, e isso vende sem rival pois formata os medos dos pessimistas militantes. A televisão é o que sabemos, e é ela a quase única consumidora do tempo de ócio, o tempo “nosso” e cuja fruição é desperdiçada nesse salivar ignominioso. Nas conversas de café, tertúlias familiares, faz-se corte e costura alheio sem se gabar os desfiles bonitos que (também) acontecem. A cultura do deita abaixo, órfã de valia quando aos seus horizontes são ocultados os bota acima de bom corte, que os há. É deprimente. Ainda mais quando se percebe que a culpa é sempre dos ‘outros’, peleja viciada quando os olhos são cegos a um dos lados do campo.
Ousar discordar? sim, sempre. Com raiz no raciocínio optimista de que não se é o ser mais perfeito do bairro, o mais puro e o mais certo, o mais lógico, nessa humildade e na justiça de não ler um adversário/rival/inimigo quando se exerce a democrática visão alternativa. Acreditar que não se vive imerso num meio mafioso onde tudo e todos nos querem tramar, que é errado arrolar só testemunhos negativos.
Optimismo - anda cá que estás a fazer tanta falta…
(a propósito, entre outras coisas que aqui não são chamadas, da matutina leitura da imprensa)
Ousar discordar? sim, sempre. Com raiz no raciocínio optimista de que não se é o ser mais perfeito do bairro, o mais puro e o mais certo, o mais lógico, nessa humildade e na justiça de não ler um adversário/rival/inimigo quando se exerce a democrática visão alternativa. Acreditar que não se vive imerso num meio mafioso onde tudo e todos nos querem tramar, que é errado arrolar só testemunhos negativos.
Optimismo - anda cá que estás a fazer tanta falta…
(a propósito, entre outras coisas que aqui não são chamadas, da matutina leitura da imprensa)
quarta-feira, maio 18, 2005
Cá de longe, do Tempo
Divorciamo-nos há quase trinta anos atrás. Um amor juvenil, um namoro em que as mãos dadas e as carícias trocadas fizeram-me suspirar por mais, acasalamento e de papel passado, uma tarde rabiscado naquela avenida que desce a colina e beija-te no ventre, baixa da cidade onde o Homem ergueu orgulhosos trinta e tal andares para dizer à linha da paisagem, em grito de posse para a terra amante fiel e tolerante que tudo lhe dá e permite, que a sua ambição é grande, alta, excessivamente alta. Antes do divórcio que desalinhou o nosso entrelaçado de afagos, mesmo antes do casamento precipitado pela nossa recém maioridade, eu e tu, musa-cidade, namoramos sem fim nem jeito nas tuas esquinas que me eram tão familiarmente sensuais, esquecidas as convenções nas partilhas de amor que trocamos no teu Sol africano, esse bafo quente que clamava por quinhões de emoções que não lhe regateamos. Era um amor doce, eram beijos sem fim trocados na suavidade da brisa que subia da baía para a colina e amenizava fins de tarde tropicais, doutras vezes impetuosos no travo de sal das ondas que nos lambiam na areia macia das praias, portas do mar onde nos sentávamos, juntos, próximos, amantes, jurando cumplicidades e sorrindo ao viver. Sim, estávamos apaixonados e o nosso namoro era tão lindo como é o amor que líamos nos nossos olhos quando nos encarávamos e sorríamos, enlevados na nossa paixão.
Hoje, os tais trinta anos depois mais coisa menos arrufo, ainda não gosto de falar no divórcio, prefiro afagar em mim o enlevo das carícias da memória, as mãos dadas, os suspiros e as juras que trocávamos. Compreendes-me querida? Como dizem os antigos e que muito conhecem destas coisas dos amores perdidos, não há verdades únicas nas separações e é difícil arrolar razões e encontrar culpados únicos quando os dedos se separam e deixa de se sentir o conforto da sua carícia. Quando o romance termina e esvaziam-se os dias dos calores como aqueles de que o nosso namoro foi farto, quando sobrevém às noites o frio da solidão. Não, nem as palavras de traição são aliçadas, excessivas na injustiça de tanta letra dura para contar lágrimas derramadas, o tempo que passa, a separação. Aconteceu, os Deuses entenderam que o nosso romance precisava de mais provas, outro fogo que não o que nos aquecia na ânsia dos jovens amantes, e ele soçobrou; o nosso casamento, pueril, reprovou-se a tal prova e chumbou o enlace que se jurara eterno. Conheci outras cidades e outros leitos, mais amores, e valha a verdade em contar-te que, neles, também fui feliz. Noutros colos e noutras ruas também amei e o meu sorriso surgiu natural ao acariciar seios-colinas, nas águas doutras praias e na sombra doutras árvores, na crosta urbana doutras terras e doutras cidades, também ternas na sua secular carícia, sapiente. Mas há estes momentos de melancolia em que olho o passado e recordo o primeiro amor e cai-me uma lágrima de saudade.
Hoje, os tais trinta anos depois mais coisa menos arrufo, ainda não gosto de falar no divórcio, prefiro afagar em mim o enlevo das carícias da memória, as mãos dadas, os suspiros e as juras que trocávamos. Compreendes-me querida? Como dizem os antigos e que muito conhecem destas coisas dos amores perdidos, não há verdades únicas nas separações e é difícil arrolar razões e encontrar culpados únicos quando os dedos se separam e deixa de se sentir o conforto da sua carícia. Quando o romance termina e esvaziam-se os dias dos calores como aqueles de que o nosso namoro foi farto, quando sobrevém às noites o frio da solidão. Não, nem as palavras de traição são aliçadas, excessivas na injustiça de tanta letra dura para contar lágrimas derramadas, o tempo que passa, a separação. Aconteceu, os Deuses entenderam que o nosso romance precisava de mais provas, outro fogo que não o que nos aquecia na ânsia dos jovens amantes, e ele soçobrou; o nosso casamento, pueril, reprovou-se a tal prova e chumbou o enlace que se jurara eterno. Conheci outras cidades e outros leitos, mais amores, e valha a verdade em contar-te que, neles, também fui feliz. Noutros colos e noutras ruas também amei e o meu sorriso surgiu natural ao acariciar seios-colinas, nas águas doutras praias e na sombra doutras árvores, na crosta urbana doutras terras e doutras cidades, também ternas na sua secular carícia, sapiente. Mas há estes momentos de melancolia em que olho o passado e recordo o primeiro amor e cai-me uma lágrima de saudade.
Hoje, vida feita e semi-gasta, com tanto balanço encerrado e de contas ajustadas há em mim uma portinha que não se cerra, abro o peito e espreito, vejo-te a ti minha primeira amada. Vejo-te, minha cidade. Se me olho ao espelho e tento ler as rugas, decifrar as cãs, desisto de nelas contar as desilusões e deixo o meu olhar perder-se no brilho dos olhos quando a memória em ternura te contempla, as avenidas e o caniço, as acácias tão rubras como quente era o nosso enlevo. Fazes-me falta neste Outono da vida, querida. Sinto a falta do teu bafo quente, o brilho do teu sorriso, da magia que era acordar de mãos em ti enlaçadas e acreditando na eternidade da nossa paixão. Desculpa-me pelo que errei, pelas minhas culpas na nossa separação. Desculpa-me. Porque ainda te amo, pelo tempo passam outras que me amam e me tratam bem mas confesso-te em letra de lei que, em mim, ainda não aconteceu amor como o nosso primeiro. Desculpa-me meu amor, minha cidade.
terça-feira, maio 17, 2005
O livro
Se clicarem em cima da capa do "tijolo", ao lado, acede-se ao site da editora ('Pé de Página', de Coimbra). Lá já é possível fazer a sua encomenda on-line sendo os portes postais por conta da casa, pelo menos para Portugal.
Sobre o lançamento: está confirmadíssima a data de 18 de Junho e o local; é um sábado e será às 18 horas, no Espaço Galveias ao Campo Pequeno, Lisboa a grande aldeia...
O Guilherme de Melo acedeu a dizer umas palavras sobre o "Xicuembo", deixando-me inchado como um pavão pois a sua pena é das que narram África com arte maior - vidé o seu "Os leões não dormem esta noite", romance histórico sobre a vida do tão pouco conhecido imperador Gungunhana e escrito a pedido pessoal do falecido presidente Samora Machel, a quem o livro é dedicado. Estou a deliciar-me com a sua leitura, e a aprender.
O grupo de teatro amador de Almeirim, "Narizes Perfeitos", fará a teatralização de uns pequenos sketchs extraídos do livro, momento especial e que só por si convida a um olhar. A magia do teatro, a força da juventude que acredita que a cultura não é exclusivamente coisa de museus nem de alfarrábios, ela é viva e eles personificam-na.
A edição tem o apoio do pelouro da cultura da Cãmara Municipal de Almeirim e do Centro Cultural Luso-Moçambicano, inexcedíveis que foram no ajudar-me à realização deste sonho. Infelizmente a 18 de Junho começam as festas da cidade (Almeirim), e muito dificílmente a autarquia estará representada ao nível que desejava e eu também. Mas sentirei a sua presença física, para além da realidade-livro há as palavras de incentivo e de carinho que nunca se esquecem, menos ainda nesse momento.
Desenvolvo diligências prometedoras para a comparência do senhor croquete e da dona chamuça, sendo que as latitas estão vacilantes, indecisas sobre a forma de penetrar acontecimento tão erudito... Debaixo da mesa? em arca de praia domingueira? dissimuladas e disfarçadas, acessíveis em passa-palavra iniciática? Alguma solução se arranjará...
Quero muita gente lá, casa cheia, para agradecer as carícias que me deram em ano e meio de bloganço que pariu um livro e, muito importante, para me dissimular no meio da multidão e ninguém reparar em mim, verem in loco a triste figura que quer passar por autor. Venham, por favor, estão todos convidados.
Ah...! não é preciso levar sandálias novas, ok?
Trinta anos de prisão
Este é título do estúpido sonho que alimento quando, como agora, deixo-me submergir nas águas da depressão, mancha sem nome que inunda o quotidiano todos os dias um pouco mais além, o viver social que se incompatibiliza por tudo e, pior, com todos. Uma clausura total e definitiva, um mínimo de falas e de convivências, silêncio, doce silêncio, o mundo a girar ‘lá fora’ sem de mim dar conta e pedir participação. É assim que me sinto e das primeiras vítimas ressalta o blogue, exposição pública e voz alta demais para o silêncio e anonimato da cela desejada. Abro a web página e olho-o com rancor, um inimigo que me acusa pela ausência sem perceber que me leio como se de escrita dum estranho fosse, ele não tem sido “o meu canto” onde me sinto bem. Fora dele também pouco tenho escrito, insignificantes rabiscos em cadernos e que por lá ficam e lá morrerão, linhas nascidos com a grave deficiência da demência hereditária do seu escrevinhador. Nos Grupos MSN idem, fora as aspas duma ou outra réplica a mensagem que mais me toque e apele ao bocado ainda não submerso neste mar lodoso que me encheu o horizonte. Puta de depressão. Conheço-a, é cíclica, há anos que sou seu cliente fiel, temo-a pelos estragos que costuma deixar quando me agarra e tudo relativiza, mas é como uma droga cujo sabor e cheiro atraem para além das juras de largar a dependência. Abraço-a, fetal, e até dela extraio este mimo de mito de felicidade plena que é sonhar com clausuras de trinta anos, alimentado administrativamente ao mínimo pois disso de nada mais careço, obsequiado com o isolamento total, a paz que se promete sublime, fortuna mor. (se terminasse já estava tudo dito e até demais, mas continuo) Iniciei posts de despedida ou de explicação de silêncios, com nenhum me satisfiz e reneguei-os por não serem fiéis ao que (de mim) sinto. Alguns amigos relacionam o meu estado de ânimo com uma qualquer fase stressante pré-parto do livro, e se lhes concedo razão ela não é total pois destes sinais íntimos tenha farta experiência, depressivo militante que sou. É “ela”, anda aqui e eu tenho fascínio pelo seu abraço, masturbo-me em cenários trágicos, suicídios (que exagero, esclareço), vocações eremitas ou prisões de longa duração em que as visitas domingueiras se vão espaçando naturalmente conforme o tempo anda, e ele não pára fora deste umbigo enorme cuja carícia onanista me abstrai da realidade, o inegável quotidiano que quero ausentar-me. Sou um parvo, não um depressivo. Parvo é nome e apelido, minto se lhe chamar doente, deprimido, mistificação de refúgio para encobrir a verdade de nada mais desejar que enrolar-me em mim, devagarinho, só a ouvir-me respirar e ausente do resto que me rodeia, a desejar que o tempo passe sem ele ou alguém dar conta de mim. No resto do tempo qual é o verdadeiro eu, o duplo tagarela-escrevente ou o duplo dos silêncios e (destes) posts depressivos? Cada um tem saudades do outro, o doentio (qual é? qual?) gostava de ser dele sempre ausente e eternamente profícuo, o outro (inverte-se o conceito, são é o da pose fetal) tem o sonho dos tais trinta anos de prisão, abstracção mor do mundo e, confesso-o, demissão de responsabilidades. Chego a admitir voltar às consultas de psiquiatria mas logo penso que daí nada de novo virá para melhor definir esta dualidade. Conheço-me e conheço os sintomas, há que aguentar pois o diagnóstico está de há muito feito, aqui mal sintetizado.
Sabem uma coisa? Virei de folha, três páginas. Escrevi mais e coerente do que há algum tempo não fazia. Soube bem, pelo que avanço com pedido de caneta e caderno para a cela, os trinta anos, encorpar o prisioneiro que sonha com o indulto passando a pena a ceder lugar de desejo a mera ficção de quem esbofeteia fantasmas, contando-os, escrevendo-os. “I will back”, é frase de filme.
Sabem uma coisa? Virei de folha, três páginas. Escrevi mais e coerente do que há algum tempo não fazia. Soube bem, pelo que avanço com pedido de caneta e caderno para a cela, os trinta anos, encorpar o prisioneiro que sonha com o indulto passando a pena a ceder lugar de desejo a mera ficção de quem esbofeteia fantasmas, contando-os, escrevendo-os. “I will back”, é frase de filme.
quinta-feira, maio 12, 2005
Poetas moçambicanos - Delmar Gonçalves
..........................................................................
E eu sou eu
Aqui estou eu
Mestiço de negro e branco
Severo e brando
Obstinado e ocioso
Modesto e orgulhoso
Obsessivo e sereno
Manso e prudente
Agradável e egocêntrico
Talvez a lei dos contrários
Impere em mim
Ou talvez haja apenas
Uma simbiose de antíteses
O que faz de mim indivíduo
Pois é...
Eu sou eu.
..........................................................................
Delmar Gonçalves (1996)
Poetas moçambicanos - Nora Villar
Irregular
pisei os sonhosno gral da angústia
enterrei na testa
a aresta aguda
do caco maior
o vidro moído
escapa-se em silêncio
pelos interstícios
das veias
agora vejo por dentro
a realidade fragmentada
no caleidoscópio
dos olhos
cai uma pausa
de espanto
a nivelar os sentidos
na alquimia das horas
ignoro as sombras voadas
nas janelas do sangue
e o assobio
em que embalo
o medo
assalta-me as paredes
sem me afligir
Nora Villar (2005)
Fiúza Cabernet
Palato bem tratado, estalo na língua e vontade de mais. Hoje, ao sabor dum Fiúza e doutro pretexto qualquer enrolei conversas grandes, daquelas de colheita rara, luxo que acabou ainda a tarde brilhava. Fica o bom travo, seguro, sólido como algumas coisas têm de existir, sempre. Vindima de excepção, travo que reforça certezas acerca da boa qualidade da cepa.
Fiquei cliente da marca, há horas de luxo na vida e o Fiúza Cabernet, 1997, é pomada de eleição, garanto.
terça-feira, maio 10, 2005
"malapata"
Hoje fui visitado pelo Sinclair Seagull do blogue malapata, o maior gag da blogosfera desde que o dói-me + faleceu ou curou-se.
Para além das mamas tamanho XXL que lhe fazem as delícias (e a mim também, confesso...) o que ressalta é o português empregue, e estou ainda hesitante se o Sinclair será genuíno ou uma brilhante montagem. Por exemplo, o seu post sobre a eleição do cardeal Ratzinger para Papa e as dúvidas e receios que o (Sinclair) atormentam, é... brilhante. "Pode!". Vou linká-lo, claro.
Pratica interactividade com os comentadores e nas caixas de comentários há também algumas pérolas do seu linguarajar castiço, hilariante. Vá, deixem-se de intelectualices e dêem lá um salto... "desculpo"
Nota: atentem na selva em triplicado de links, e nos sombreados que são os que clicou recentemente. Ou está mesmo esforçado em aprender português, ou...
segunda-feira, maio 09, 2005
"Mundo Literário"
Pelo JL (Jornal de Letras) de 27/4 soube que o Gonçalo M. Tavares edita como o Speedy Gonzalez. Quinze títulos aos trinta e quatro anos, nos últimos dias dois de rajada. Puxa... bem, ainda não li nenhum e não fazia ideia de quão fértil é. Lá irei (ao Gonçalo) assim que a pilha dos pendentes amaine um bocado. Mas o post não é sobre a fertilidade que gera tão vasta prole, feliz o pai que leva até ao fim tanta gravidez. Na entrevista o Gonçalo Tavares descobriu um pouco do baú e revelou uns inéditos, e em quatro linhas fez sorrir o malandro que há em mim. Deu-lhe título de "Mundo Literário" e é assim:
.............................................................................................................
"Era uma vez uma mulher voluptuosa, mas muito sensível. Escrevia poemas e guardava-os no sempre emocionante espaço que existe entre um seio e outro.
Alguns homens não a largavam à procura de inéditos"
............................................................................................................
Gargalhei. O Frei ganhou uma citação favorita quando o latim faltar entre uma conversão e outra.
Parabéns Gonçalo, bem malhada, soe conventualmente dizer-se!..
quinta-feira, maio 05, 2005
Porquê?
Cara Teresa - espero que me permita que a trate assim…
Hoje foi a segunda vez em que venho reler esta mensagem(*) e suas réplicas, e detenho-me na sua. As diferenças do olhar sobre o passado, exercício impossível se se excluírem as experiências pessoais. Como os vizinhos do terceiro direito e do oitavo esquerdo, o mesmo prédio e a mesma rua, para além das delícias do imóvel os seus quotidianos são diferentes, as cores das paredes e os objectos que as adornam, no futebol quando um grita a alegria outro chora a derrota, as suas recordações do hoje no amanhã, mesmo prédio e mesma rua, serão diferentes. O fim do Moçambique colonial, aquilo que eu gosto de chamar “os anos loucos”, primeira metade da década de setenta do falecido, não é tema de conciliação fácil nas nossas visões, díspares em muito, ora pretexto para uma reflexão pessoal sobre o nosso comum passado.
Repare: não está em causa o nosso amor comum, a carícia à memória que nos traz a palavra Moçambique e os anos de encanto que a perpetuam no sentir e a sobrevivem a décadas de distância. Não é isso, sei que ambos recordamos com carinho o que merece ser assim tratado, um país naturalmente belo, uma (nossa) juventude que sorria ao viver, e este correspondia-lhe nas línguas de sol que lambiam o dia-a-dia na linda cidade que LM era, e pelo beijo que o mar nos dava e lavava as inevitáveis agruras do crescer, a magia de África logo ao lado do último cimento das cidades, imenso jardim de capim, selvagem, bonito, especial. Essa magia, o feitiço – conceda-me o “xicuembo”…, ambos o conhecemos e sabemos que é inato, veio com a bênção da criação que a bafejou no princípio de tudo, antes do Homem. Naqueles tempos, fim da era colonial portuguesa – o tal império de que fala, falido de tanto e até de moral para em paz de consciência ousar pensar que ser-lhe-ia legítimo sobreviver, “naqueles tempos” assistíamos, actores múltiplos, ao fim do engano, da farsa política que acabou por implodir, e todos nós perto demais para não sentir a força da derrocada, um tossir perpétuo às poeiras que toldaram a paisagem. Eu sou daqueles que, perante o furúnculo, defendo o seu lancetamento à absorção da purulenta concentração, lesiva do escorreito e são. Vou tentar explicar-me melhor. Dir-me-á cara Teresa, se um Homem e uma Mulher, apaixonados como lhe pode e deve acontecer quando as suas vidas se cruzam, não deverão entre si celebrar esse sentimento, estender as carícias a um viver comum. Acasalar, em suma, que por significado também inclui viver dias e noites comuns quando a paixão não é passageira. Falo em sentimentos simples e comuns como o celebrado amor. Na sociedade colonial, sendo ele branco e ela negra, ela era olhada pela cidade de cimento como uma ‘puta’ privada, e de dele não se dizia ser apaixonado mas sim cafrealizado. Não invoco o inverso pigmentário por dele não ter a mínima memória; uma branca e um negro assumirem publicamente que gostavam um do outro, versão adulta, em mim é memória inexistente do quotidiano visual, naqueles tempos. Esses amores que são naturais entre um Homem e uma Mulher que se cruzam, acasalamentos humanos, eram mantidos secretos muito para além do recato do privado que as paixões aconselham. E eu não entendo, lamento a falha cromática na paleta de quem então pintava o quadro onde todos vivíamos, supostamente felizes por a mão que pinta as pinceladas do quotidiano reprovar e marginalizar as pinceladas autónomas, livres e fruto exclusivo do sentir.
Mas saiamos da esfera íntima e olhemos a cidade, vamos percorrer juntos as bonitas avenidas e vamos sentir o rubro das acácias, o cheiro do mar nas praias do ‘Miramar’ e do ‘Dragão’ que se enchiam aos fins-de-semana de multidões alegres, uma alegria esfuziante de viver que estava na génese do espécime Laurentino, ser alegre e empreendedor, comunicativo e no grande global massa feliz. Recordemos até a “volta dos tristes”, os carros parados ao longo da areia quente, os rádios onde se ouve o relato da ‘metrópole’, os pregos trinchados e os camarões no ‘grego da Costa do Sol’, e eu em memória mais pessoal os deliciosos lanches que a minha mãe fazia e eu comia enquanto brincava na areia, fina, quente, húmus que ajudava crescer e acreditar que aquela felicidade era perpétua e os tempos do mundo eram imutáveis, ‘aqueles tempos’ deveriam eternizar-se. Subamos a um desses arranha-céus ou toquemos campainhas em prédios mais modestos, visitemos amigos em casas com lindos jardins sejam eles no bairro do Fomento ou no Triunfo, Matola ou Polana. Quantas caras negras se vêem nesta volta, cara Teresa? Quantas famílias negras em convívio assaloiado em volta dum relato de futebol e de conversas sobre bordados, um frango assado, todos acotovelados num carro em segunda mão? quantos miúdos negros, ‘mufanas’, em brincadeiras felizes chapinhando na água, lado a lado com os seus amigos brancos, outros ‘mufanas’, sob o olhar vigilante de irmãos e pais que conversam estendidos na areia? quantos inquilinos negros abririam as portas cujas campainhas tocamos nesta voltinha pelo passado? para além dos serviçais, claro, desculpe-me a ironia mas acho que o sistema colonial tinha horror à possibilidade (que, então, nem academicamente se podia pôr) de haver um patrão negro que tivesse um mainato filho da Beira Alta ou da Baixa, um branco, à hipótese de uma ‘pitinha’ branca seduzir-se pelos bíceps dum rapaz negro, vice-versa dele pela feminilidade corporal emergente dela. Afinal os prédios e as praias eram racistas e só abrigavam e bronzeavam os alvos, tão alvos como eram excessivamente alvas as inesquecíveis piscinas onde passamos ociosas tardes roubadas à escola e onde não me recordo de ver negros brincarem, rirem, namoriscarem, afinal o saudável do natural aprender para crescer. Mais uma vez eu olho o passado e acho que o quadro revela pouca ousadia da mão do seu pintor, quando se olham pormenores da espectacular paisagem. E se não era racismo, se o meu delírio já turva a verdadeira cor das memórias desse passado? aceite a hipótese de exagero sobrevém-me a outra explicação possível. As desigualdades sociais e a sua estratificação, uns cinco por cento a serem fruidores da quase totalidade da propriedade privada de valor económico, Estado excluído. Uma vez escrevi-o e vou de si, cara Teresa, pedir-lhe também ajuda para dizer-me quantos negros conheceu, chefes de família com uma vida de trabalho e dificuldades e filhos educados – a situação normal dum cidadão!..., que aos cinquenta anos e trabalhando desde os doze, negros, possuíssem o seu próprio automóvel? exagero se lhe disser que era difícil encontrar um número que conte, pouco mais que dedos que temos nas mãos? Este homem de uma vida de trabalho e de luta, digna, seria proprietário duma ‘Florett’, e não era luxo para todos os negros nestas condições. Eis a regra, no inverso víamos a baixa da cidade com engarrafamentos de trãnsito, nos carros de trabalho muitas faces negras e algumas brancas, nos particulares só se viam caras brancas. Eis a cidade, cimento, mas havia outra, maior, caniço e zinco, gente qu se levantava às cinco da manhã para apanhar o comboio e ir trabalhar na cidade de cimento, às seis os que tinham machimbombo. Lembra-se dos machimbombos Teresa? neles fiz mil e uma tropelias, esmerei-me em aprender a descê-los em andamento e em grande estilo, na vinda da escola colaborava na algazarra que, muitas vezes, levava os desesperados chofer e ‘alicate’ a levarem-no directo para a esquadra do Alto Maé pois o chapéu do cobrador tinha desaparecido. E, quando ia para a praia tentava falsificar os furinhos no passe, para que eles não faltassem depois nas viagens para a escola. Morei na Mafalala e ia muito à praia, essas carreiras de machimbombos eram-me bem conhecidas; afirmo sem grande receio de erro que, extra horas de ponta, as lindas praias que felizardos dignos de legítima inveja desfrutavam eram servidas por igual número de viaturas que os bairros residenciais da Mafalala e do Xipamanine… Sim, havia duas cidades, a de cimento, branca e com pequenas margens na sua raia onde a miscigenação acontecia mas com exclusão da raça maioritária, a negra. Havia a outra cidade, caniço, servida dos restos da outra e onde tudo faltava, saneamento fora das poucas ruas de alcatrão, electricidade para além das ruas em areia mais largas e onde estão as cantinas. Eu morava na av. de Angola e não havia na zona uma escola primária, fui para a João de Deus no Alto Maé, na orla das barreiras e a quilómetros de casa. Casa essa que era um prédio de cimento num mar de palhotas onde viviam milhares de miúdos que não iam à escola (escola aquela onde aprendi as paragens e apeadeiros da linha do Norte ou da do Tua, mas nunca a de Nampula ou de Vila Pinto Teixeira). É esta a paisagem urbana que conheci e onde fui feliz, mista, o fascínio dos prédios e das praias, também o do labirinto do caniço onde corria, ia às mangas nas costas do dono ou arrastava o meu papagaio de papel, por mim feito e sonhado alado. Na sociedade colonial os olhos não são iguais quando percorrem as avenidas traçadas a régua e esquadro, domicílio para uns e que são sempre os mesmos, visita para outros e que são também sempre dos outros. Há ser-se negro e ser-se branco, e a beleza natural ou que o Homem moldou não é servida em bandejas iguais, não me diga, cara Teresa, que paisagem e restos de bolo é igual a paisagem e refeição completa, que a partilha das benesses do viver em Moçambique era igual para todos ou não haviam mesas diferentes nas cervejarias (zonas de periferia; os negros não frequentavam as da cidade formal e por alguma razão seria), eram as do canto que ‘os pretos’ usavam. Estarei a exagerar também aqui, Teresa?
(...) O ‘movimento do 7 de Setembro’ foi um erro político total, pugnando por manter a discussão nesta esfera. O mundo nunca permitiria uma segunda Rodésia, as independências africanas sucedem-se desde os anos cinquentas com exemplos de estabilidade e outros de turvação social. Vive-se a guerra-fria e os novos países (e os antigos…) são jogados na mesa do poder global segundo os interesses dos únicos donos do jogo, as super-potências. Mas sou um optimista quando penso no ser humano e ouso citar uma Zâmbia ou um Malawi, uma Tanzânia, todos bem próximos e filhos dum colonialismo que soube extinguir-se na altura correcta, um Senegal ou até o Zaire, francófonos. Todos com os seus problemas (nacionais! eis a diferença e o problema!...), mas independências afirmadas e orgulhosas e não aquele estatuto de não sei quê que crismava as colónias de estados, cosmética falaciosa do colonialismo que em nada alterava a verdade de Moçambique ser o produtor de açúcar e ele lá custar mais do dobro do preço que custava na ‘metrópole’. O ‘7 de Setembro’ e o ’21 de Outubro’ e os seus horrores é faceta do passado que tenho pudor em comentar, por respeito às vítimas e pelos meus traumas pessoais sobre esses dias horríveis, assassinos dum futuro que se acreditava mais puro, mais solidariamente humano. Deles mantenho a convicção intacta à que, na época, em mim incuti. Que os seus fomentadores, os que viabilizaram a sua face de horror ”roçam perigosamente a fronteira que separará um sonhador dum criminoso sendo fraco argumento atenuante a inconsciência”. Aplicável a ambos os extremismos em liça. Não se desencadeiam movimentos de massas em cima de barris de pólvora sem assumir as responsabilidades do seu movimento descontrolado, necessariamente violento como o duma manada que se sente ameaçada por predadores e em tropel insensato e cego arrasa direitos, incluindo os mínimos que ao ser humano assistem, ser livre de acertar ou errar nas suas escolhas sociais e políticas, e claro que o de não ser chacinado porque tem o boné errado no estádio errado. (...) Os julgamentos populares nunca me foram simpáticos e acrescento que muito felizmente, sejam eles políticos e de fases em que os calores revolucionários inflamam o discernimento e turvam respeitos a direitos humanos elementares, ou aos de café em que se crucifica por inveja ou maldade as figuras públicas, o sucesso alheio que o nosso insucesso olha com inveja e má-fé. Tenho pejo em conjecturar sobre o que seria a minha (nossa) vida se não tivessem acontecido o “7/9” e o “21/10”, guilhotinando um ramo muito emotivo da árvore do sonho que em mim nascera e crescia, tudo na altura própria para encarnar os sonhos e antes desta velha carcaça ter assumido esta personalidade resmungona, ácida em excesso, e para eles, exageros, rogo a sua indulgência. Nos Grupos MSN e no blogue, sobre estas datas tão tristes, que me lembre, só fiz o comentário que acima linko, seco, seco como eu me sinto quando penso na leviandade da História que tão facilmente nela aceita páginas de horrores, sem um claro não que, definitivamente, nunca mais as escreva. Estão passados trinta anos mas não é essa prescrição que quero citar, é a do arrependimento sincero que sentirá quem se olha e humedecem-se-lhe os olhos quando reconhece que há cabelos brancos justificados, penitência eterna enquanto os olhos não se apagarem à luz da consciência. A única prescrição válida deverá encontrar-se aí, olhos nos olhos e no silêncio da consciência. Para os horrores das revoluções de massas, para os horrores particulares com que vamos enchendo os dias. É amargura não só duma via pois tenho um único coração para duas grandes mátrias (expressão muito feliz da minha amiga Isabella Oliveira referindo a sua dualidade de sentimentos, que eu adopto), e ele chora, resmunga ou indigna-se quando os jornais trazem sombras ao presente.
A Teresa terá sido como eu, salvas as diferenças e adiantadas as desculpas pela pretensão. Zangou-se “n” vezes com a falta de liberdade e, nos momentos de maior desconsolo pela injustiça de que se sentia alvo sonhou ver a maioridade abreviada, a libertação plena e o usufruto da sua gestão como bem lhe apetecesse – aos quinze ser livre é ser-se maior de idade… Mais coisa menos coisa terá sido assim, idem comigo e idem com todos. Duvida a Teresa que, com ou sem 25A, vencesse quem vencesse a guerra, Moçambique seria independente até final da década de setenta, bem antes dos muros ruírem? Eu era um puto, mas um puto atento às conversas ‘dos adultos’. Nem me refiro às familiares que eram quase ausentes de vertente política e, quando a abordavam, era na apologia do situacionismo; refiro-me em concreto a outras doutros meios, académico, jornalístico, cultural. Tudo proporcionalmente pois eu era um simples puto, mas sempre tive um espírito curioso e uma grande sede em aprender, aprendendo assim a questionar os chamados factos consumados da realidade. Pela minha memória desses tempos e pelo que entretanto aprendi ouvindo e lendo afirmo com boa carga de certeza que, na sociedade laurentina dos tais “anos loucos”, setentas, fim do império colonial português, não existia um sentimento de portucalidade mais forte que o ténue institucional, residual na sociedade civil e com óbvia excepção ao serviço militar que formava os seus guerreiros física, técnica e psicologicamente. A ‘metrópole’ era uma coisa distante, local da família, a terra onde viviam os políticos desconhecidos que mandavam por procuração concedida a “governadores”, também eles todos de lá oriundos e que para lá voltavam finda a ‘comissão’. Milhares de quilómetros de distância, tão excessivos que ninguém a isso conseguia fechar olhos e deixar de resmungar ao seu arcaico, caricato, ofensivo. Moçambique e os moçambicanos queriam ser independentes, incluindo-se no desejo os seus de origem portuguesa. Resta saber como seria, se pela humilhação da derrota militar ou por uma ruptura política com o fornecedor de governadores e, depois, entendimento sério e não demagógico com quem há dez anos lutava de armas na mão por esse justo objectivo. Moçambique carecia da sua independência como todas as outras colónias portuguesas, como todas as colónias do mundo. Da sua maioridade plena, não espartilhada por estatutos pseudo-especiais que são sempre subterfúgios para perpetuar o injustificável, medieval domínio dum país por outro baseados em longínquas e arcaicas supremacias de canhões e caravelas, em discutíveis superioridades culturais ou, até, de modos de vida social. Afasto a questão religiosa, repare, pois essa instituição desde os tempos dos padrões que não acerta passo com a realidade, missionária estranha que converte ateus pobres em pobres convertidos, com a bênção do conselho à resignação em vida, pois o paraíso não é terreno… Sobre a acção da Pide, como certamente compreenderá, mui diplomaticamente não vou falar mais do que já disse noutras alturas e lugares: é das tais matérias onde não aceito argumentos de defesa a comportamentos selvagens, bárbaros, sob nenhuma luz ou prisma justificáveis.
Moçambique. Repare na palavra, no seu feitiço, em como ela invoca paixões, e em como é triste ver que arrola ódios. Sabe Teresa, penso que no rol de testemunhas a seu favor há que nunca esquecer os dezoito milhões de moçambicanos lá residentes, os quatro milhões na emigração económica, e as ‘nossas’ centenas de milhar em diáspora por fortuito histórico. Todos amamos Moçambique, e todos sofremos quando ele sangra. Vou finalmente terminar. Há tantas palavras sempre por dizer quando as emoções avocadas são assim fortes… Tenho um amigo dos tempos da Mafalala que é o José Alberto Sitoe. É poeta popular, dos becos no caniço e do vinho ordinário das cantinas, amigo desde os tempos dos calções e das sandálias, pasta escolar debaixo da árvore e muitos golos em balizas que só os paus de caniço sabem desenhar no tal retrato “daqueles tempos” que gostamos de contemplar de vez em quando. Não sei se ele tem também duas mátrias ou só uma pátria. Recentemente recebi alguns poemas dele e deixo-lhe aqui um para que o leia e sinta, sinta a diferença de olhares, por favor.
Com muito carinho pela nossa terra comum, deixo-lhe a si, Teresa, um forte abraço.
Carlos Gil
Machamba
A enxada ergue-se e cai
ritmadamente Hoje foi a segunda vez em que venho reler esta mensagem(*) e suas réplicas, e detenho-me na sua. As diferenças do olhar sobre o passado, exercício impossível se se excluírem as experiências pessoais. Como os vizinhos do terceiro direito e do oitavo esquerdo, o mesmo prédio e a mesma rua, para além das delícias do imóvel os seus quotidianos são diferentes, as cores das paredes e os objectos que as adornam, no futebol quando um grita a alegria outro chora a derrota, as suas recordações do hoje no amanhã, mesmo prédio e mesma rua, serão diferentes. O fim do Moçambique colonial, aquilo que eu gosto de chamar “os anos loucos”, primeira metade da década de setenta do falecido, não é tema de conciliação fácil nas nossas visões, díspares em muito, ora pretexto para uma reflexão pessoal sobre o nosso comum passado.
Repare: não está em causa o nosso amor comum, a carícia à memória que nos traz a palavra Moçambique e os anos de encanto que a perpetuam no sentir e a sobrevivem a décadas de distância. Não é isso, sei que ambos recordamos com carinho o que merece ser assim tratado, um país naturalmente belo, uma (nossa) juventude que sorria ao viver, e este correspondia-lhe nas línguas de sol que lambiam o dia-a-dia na linda cidade que LM era, e pelo beijo que o mar nos dava e lavava as inevitáveis agruras do crescer, a magia de África logo ao lado do último cimento das cidades, imenso jardim de capim, selvagem, bonito, especial. Essa magia, o feitiço – conceda-me o “xicuembo”…, ambos o conhecemos e sabemos que é inato, veio com a bênção da criação que a bafejou no princípio de tudo, antes do Homem. Naqueles tempos, fim da era colonial portuguesa – o tal império de que fala, falido de tanto e até de moral para em paz de consciência ousar pensar que ser-lhe-ia legítimo sobreviver, “naqueles tempos” assistíamos, actores múltiplos, ao fim do engano, da farsa política que acabou por implodir, e todos nós perto demais para não sentir a força da derrocada, um tossir perpétuo às poeiras que toldaram a paisagem. Eu sou daqueles que, perante o furúnculo, defendo o seu lancetamento à absorção da purulenta concentração, lesiva do escorreito e são. Vou tentar explicar-me melhor. Dir-me-á cara Teresa, se um Homem e uma Mulher, apaixonados como lhe pode e deve acontecer quando as suas vidas se cruzam, não deverão entre si celebrar esse sentimento, estender as carícias a um viver comum. Acasalar, em suma, que por significado também inclui viver dias e noites comuns quando a paixão não é passageira. Falo em sentimentos simples e comuns como o celebrado amor. Na sociedade colonial, sendo ele branco e ela negra, ela era olhada pela cidade de cimento como uma ‘puta’ privada, e de dele não se dizia ser apaixonado mas sim cafrealizado. Não invoco o inverso pigmentário por dele não ter a mínima memória; uma branca e um negro assumirem publicamente que gostavam um do outro, versão adulta, em mim é memória inexistente do quotidiano visual, naqueles tempos. Esses amores que são naturais entre um Homem e uma Mulher que se cruzam, acasalamentos humanos, eram mantidos secretos muito para além do recato do privado que as paixões aconselham. E eu não entendo, lamento a falha cromática na paleta de quem então pintava o quadro onde todos vivíamos, supostamente felizes por a mão que pinta as pinceladas do quotidiano reprovar e marginalizar as pinceladas autónomas, livres e fruto exclusivo do sentir.
Mas saiamos da esfera íntima e olhemos a cidade, vamos percorrer juntos as bonitas avenidas e vamos sentir o rubro das acácias, o cheiro do mar nas praias do ‘Miramar’ e do ‘Dragão’ que se enchiam aos fins-de-semana de multidões alegres, uma alegria esfuziante de viver que estava na génese do espécime Laurentino, ser alegre e empreendedor, comunicativo e no grande global massa feliz. Recordemos até a “volta dos tristes”, os carros parados ao longo da areia quente, os rádios onde se ouve o relato da ‘metrópole’, os pregos trinchados e os camarões no ‘grego da Costa do Sol’, e eu em memória mais pessoal os deliciosos lanches que a minha mãe fazia e eu comia enquanto brincava na areia, fina, quente, húmus que ajudava crescer e acreditar que aquela felicidade era perpétua e os tempos do mundo eram imutáveis, ‘aqueles tempos’ deveriam eternizar-se. Subamos a um desses arranha-céus ou toquemos campainhas em prédios mais modestos, visitemos amigos em casas com lindos jardins sejam eles no bairro do Fomento ou no Triunfo, Matola ou Polana. Quantas caras negras se vêem nesta volta, cara Teresa? Quantas famílias negras em convívio assaloiado em volta dum relato de futebol e de conversas sobre bordados, um frango assado, todos acotovelados num carro em segunda mão? quantos miúdos negros, ‘mufanas’, em brincadeiras felizes chapinhando na água, lado a lado com os seus amigos brancos, outros ‘mufanas’, sob o olhar vigilante de irmãos e pais que conversam estendidos na areia? quantos inquilinos negros abririam as portas cujas campainhas tocamos nesta voltinha pelo passado? para além dos serviçais, claro, desculpe-me a ironia mas acho que o sistema colonial tinha horror à possibilidade (que, então, nem academicamente se podia pôr) de haver um patrão negro que tivesse um mainato filho da Beira Alta ou da Baixa, um branco, à hipótese de uma ‘pitinha’ branca seduzir-se pelos bíceps dum rapaz negro, vice-versa dele pela feminilidade corporal emergente dela. Afinal os prédios e as praias eram racistas e só abrigavam e bronzeavam os alvos, tão alvos como eram excessivamente alvas as inesquecíveis piscinas onde passamos ociosas tardes roubadas à escola e onde não me recordo de ver negros brincarem, rirem, namoriscarem, afinal o saudável do natural aprender para crescer. Mais uma vez eu olho o passado e acho que o quadro revela pouca ousadia da mão do seu pintor, quando se olham pormenores da espectacular paisagem. E se não era racismo, se o meu delírio já turva a verdadeira cor das memórias desse passado? aceite a hipótese de exagero sobrevém-me a outra explicação possível. As desigualdades sociais e a sua estratificação, uns cinco por cento a serem fruidores da quase totalidade da propriedade privada de valor económico, Estado excluído. Uma vez escrevi-o e vou de si, cara Teresa, pedir-lhe também ajuda para dizer-me quantos negros conheceu, chefes de família com uma vida de trabalho e dificuldades e filhos educados – a situação normal dum cidadão!..., que aos cinquenta anos e trabalhando desde os doze, negros, possuíssem o seu próprio automóvel? exagero se lhe disser que era difícil encontrar um número que conte, pouco mais que dedos que temos nas mãos? Este homem de uma vida de trabalho e de luta, digna, seria proprietário duma ‘Florett’, e não era luxo para todos os negros nestas condições. Eis a regra, no inverso víamos a baixa da cidade com engarrafamentos de trãnsito, nos carros de trabalho muitas faces negras e algumas brancas, nos particulares só se viam caras brancas. Eis a cidade, cimento, mas havia outra, maior, caniço e zinco, gente qu se levantava às cinco da manhã para apanhar o comboio e ir trabalhar na cidade de cimento, às seis os que tinham machimbombo. Lembra-se dos machimbombos Teresa? neles fiz mil e uma tropelias, esmerei-me em aprender a descê-los em andamento e em grande estilo, na vinda da escola colaborava na algazarra que, muitas vezes, levava os desesperados chofer e ‘alicate’ a levarem-no directo para a esquadra do Alto Maé pois o chapéu do cobrador tinha desaparecido. E, quando ia para a praia tentava falsificar os furinhos no passe, para que eles não faltassem depois nas viagens para a escola. Morei na Mafalala e ia muito à praia, essas carreiras de machimbombos eram-me bem conhecidas; afirmo sem grande receio de erro que, extra horas de ponta, as lindas praias que felizardos dignos de legítima inveja desfrutavam eram servidas por igual número de viaturas que os bairros residenciais da Mafalala e do Xipamanine… Sim, havia duas cidades, a de cimento, branca e com pequenas margens na sua raia onde a miscigenação acontecia mas com exclusão da raça maioritária, a negra. Havia a outra cidade, caniço, servida dos restos da outra e onde tudo faltava, saneamento fora das poucas ruas de alcatrão, electricidade para além das ruas em areia mais largas e onde estão as cantinas. Eu morava na av. de Angola e não havia na zona uma escola primária, fui para a João de Deus no Alto Maé, na orla das barreiras e a quilómetros de casa. Casa essa que era um prédio de cimento num mar de palhotas onde viviam milhares de miúdos que não iam à escola (escola aquela onde aprendi as paragens e apeadeiros da linha do Norte ou da do Tua, mas nunca a de Nampula ou de Vila Pinto Teixeira). É esta a paisagem urbana que conheci e onde fui feliz, mista, o fascínio dos prédios e das praias, também o do labirinto do caniço onde corria, ia às mangas nas costas do dono ou arrastava o meu papagaio de papel, por mim feito e sonhado alado. Na sociedade colonial os olhos não são iguais quando percorrem as avenidas traçadas a régua e esquadro, domicílio para uns e que são sempre os mesmos, visita para outros e que são também sempre dos outros. Há ser-se negro e ser-se branco, e a beleza natural ou que o Homem moldou não é servida em bandejas iguais, não me diga, cara Teresa, que paisagem e restos de bolo é igual a paisagem e refeição completa, que a partilha das benesses do viver em Moçambique era igual para todos ou não haviam mesas diferentes nas cervejarias (zonas de periferia; os negros não frequentavam as da cidade formal e por alguma razão seria), eram as do canto que ‘os pretos’ usavam. Estarei a exagerar também aqui, Teresa?
(...) O ‘movimento do 7 de Setembro’ foi um erro político total, pugnando por manter a discussão nesta esfera. O mundo nunca permitiria uma segunda Rodésia, as independências africanas sucedem-se desde os anos cinquentas com exemplos de estabilidade e outros de turvação social. Vive-se a guerra-fria e os novos países (e os antigos…) são jogados na mesa do poder global segundo os interesses dos únicos donos do jogo, as super-potências. Mas sou um optimista quando penso no ser humano e ouso citar uma Zâmbia ou um Malawi, uma Tanzânia, todos bem próximos e filhos dum colonialismo que soube extinguir-se na altura correcta, um Senegal ou até o Zaire, francófonos. Todos com os seus problemas (nacionais! eis a diferença e o problema!...), mas independências afirmadas e orgulhosas e não aquele estatuto de não sei quê que crismava as colónias de estados, cosmética falaciosa do colonialismo que em nada alterava a verdade de Moçambique ser o produtor de açúcar e ele lá custar mais do dobro do preço que custava na ‘metrópole’. O ‘7 de Setembro’ e o ’21 de Outubro’ e os seus horrores é faceta do passado que tenho pudor em comentar, por respeito às vítimas e pelos meus traumas pessoais sobre esses dias horríveis, assassinos dum futuro que se acreditava mais puro, mais solidariamente humano. Deles mantenho a convicção intacta à que, na época, em mim incuti. Que os seus fomentadores, os que viabilizaram a sua face de horror ”roçam perigosamente a fronteira que separará um sonhador dum criminoso sendo fraco argumento atenuante a inconsciência”. Aplicável a ambos os extremismos em liça. Não se desencadeiam movimentos de massas em cima de barris de pólvora sem assumir as responsabilidades do seu movimento descontrolado, necessariamente violento como o duma manada que se sente ameaçada por predadores e em tropel insensato e cego arrasa direitos, incluindo os mínimos que ao ser humano assistem, ser livre de acertar ou errar nas suas escolhas sociais e políticas, e claro que o de não ser chacinado porque tem o boné errado no estádio errado. (...) Os julgamentos populares nunca me foram simpáticos e acrescento que muito felizmente, sejam eles políticos e de fases em que os calores revolucionários inflamam o discernimento e turvam respeitos a direitos humanos elementares, ou aos de café em que se crucifica por inveja ou maldade as figuras públicas, o sucesso alheio que o nosso insucesso olha com inveja e má-fé. Tenho pejo em conjecturar sobre o que seria a minha (nossa) vida se não tivessem acontecido o “7/9” e o “21/10”, guilhotinando um ramo muito emotivo da árvore do sonho que em mim nascera e crescia, tudo na altura própria para encarnar os sonhos e antes desta velha carcaça ter assumido esta personalidade resmungona, ácida em excesso, e para eles, exageros, rogo a sua indulgência. Nos Grupos MSN e no blogue, sobre estas datas tão tristes, que me lembre, só fiz o comentário que acima linko, seco, seco como eu me sinto quando penso na leviandade da História que tão facilmente nela aceita páginas de horrores, sem um claro não que, definitivamente, nunca mais as escreva. Estão passados trinta anos mas não é essa prescrição que quero citar, é a do arrependimento sincero que sentirá quem se olha e humedecem-se-lhe os olhos quando reconhece que há cabelos brancos justificados, penitência eterna enquanto os olhos não se apagarem à luz da consciência. A única prescrição válida deverá encontrar-se aí, olhos nos olhos e no silêncio da consciência. Para os horrores das revoluções de massas, para os horrores particulares com que vamos enchendo os dias. É amargura não só duma via pois tenho um único coração para duas grandes mátrias (expressão muito feliz da minha amiga Isabella Oliveira referindo a sua dualidade de sentimentos, que eu adopto), e ele chora, resmunga ou indigna-se quando os jornais trazem sombras ao presente.
A Teresa terá sido como eu, salvas as diferenças e adiantadas as desculpas pela pretensão. Zangou-se “n” vezes com a falta de liberdade e, nos momentos de maior desconsolo pela injustiça de que se sentia alvo sonhou ver a maioridade abreviada, a libertação plena e o usufruto da sua gestão como bem lhe apetecesse – aos quinze ser livre é ser-se maior de idade… Mais coisa menos coisa terá sido assim, idem comigo e idem com todos. Duvida a Teresa que, com ou sem 25A, vencesse quem vencesse a guerra, Moçambique seria independente até final da década de setenta, bem antes dos muros ruírem? Eu era um puto, mas um puto atento às conversas ‘dos adultos’. Nem me refiro às familiares que eram quase ausentes de vertente política e, quando a abordavam, era na apologia do situacionismo; refiro-me em concreto a outras doutros meios, académico, jornalístico, cultural. Tudo proporcionalmente pois eu era um simples puto, mas sempre tive um espírito curioso e uma grande sede em aprender, aprendendo assim a questionar os chamados factos consumados da realidade. Pela minha memória desses tempos e pelo que entretanto aprendi ouvindo e lendo afirmo com boa carga de certeza que, na sociedade laurentina dos tais “anos loucos”, setentas, fim do império colonial português, não existia um sentimento de portucalidade mais forte que o ténue institucional, residual na sociedade civil e com óbvia excepção ao serviço militar que formava os seus guerreiros física, técnica e psicologicamente. A ‘metrópole’ era uma coisa distante, local da família, a terra onde viviam os políticos desconhecidos que mandavam por procuração concedida a “governadores”, também eles todos de lá oriundos e que para lá voltavam finda a ‘comissão’. Milhares de quilómetros de distância, tão excessivos que ninguém a isso conseguia fechar olhos e deixar de resmungar ao seu arcaico, caricato, ofensivo. Moçambique e os moçambicanos queriam ser independentes, incluindo-se no desejo os seus de origem portuguesa. Resta saber como seria, se pela humilhação da derrota militar ou por uma ruptura política com o fornecedor de governadores e, depois, entendimento sério e não demagógico com quem há dez anos lutava de armas na mão por esse justo objectivo. Moçambique carecia da sua independência como todas as outras colónias portuguesas, como todas as colónias do mundo. Da sua maioridade plena, não espartilhada por estatutos pseudo-especiais que são sempre subterfúgios para perpetuar o injustificável, medieval domínio dum país por outro baseados em longínquas e arcaicas supremacias de canhões e caravelas, em discutíveis superioridades culturais ou, até, de modos de vida social. Afasto a questão religiosa, repare, pois essa instituição desde os tempos dos padrões que não acerta passo com a realidade, missionária estranha que converte ateus pobres em pobres convertidos, com a bênção do conselho à resignação em vida, pois o paraíso não é terreno… Sobre a acção da Pide, como certamente compreenderá, mui diplomaticamente não vou falar mais do que já disse noutras alturas e lugares: é das tais matérias onde não aceito argumentos de defesa a comportamentos selvagens, bárbaros, sob nenhuma luz ou prisma justificáveis.
Moçambique. Repare na palavra, no seu feitiço, em como ela invoca paixões, e em como é triste ver que arrola ódios. Sabe Teresa, penso que no rol de testemunhas a seu favor há que nunca esquecer os dezoito milhões de moçambicanos lá residentes, os quatro milhões na emigração económica, e as ‘nossas’ centenas de milhar em diáspora por fortuito histórico. Todos amamos Moçambique, e todos sofremos quando ele sangra. Vou finalmente terminar. Há tantas palavras sempre por dizer quando as emoções avocadas são assim fortes… Tenho um amigo dos tempos da Mafalala que é o José Alberto Sitoe. É poeta popular, dos becos no caniço e do vinho ordinário das cantinas, amigo desde os tempos dos calções e das sandálias, pasta escolar debaixo da árvore e muitos golos em balizas que só os paus de caniço sabem desenhar no tal retrato “daqueles tempos” que gostamos de contemplar de vez em quando. Não sei se ele tem também duas mátrias ou só uma pátria. Recentemente recebi alguns poemas dele e deixo-lhe aqui um para que o leia e sinta, sinta a diferença de olhares, por favor.
Com muito carinho pela nossa terra comum, deixo-lhe a si, Teresa, um forte abraço.
Carlos Gil
Machamba
A enxada ergue-se e cai
Uma para o imposto…
outra para o mulungo…
e mais esta, também…
Uma para mim…
tantas para não sei quem…
As AK's ergueram-se e soaram
ritmadamente
José Alberto Sitoe
(*) mensagem que deixei em tréplica numa das comunidades luso-moçambicanas existentes nos Grupos MSN
"trim-trim"
Relatório do SIS:
“Chamada iniciada às 00:00 e terminada às 00:00, do número xyz para o zyx. O alegado desconhecimento poderá ser código de reconhecimento secreto. Investigar se ‘latitas’ tem ligação ao comércio de urânio enriquecido, e se as referências e considerações sobre o potencial gastronómico de algumas cidades terá a ver com agendamento de acções de desestabilização social. Sugere-se à tutela o destacamento de dois agentes e dum pastor alemão para esta investigação”
Despacho na CV:
“Recolham-se as ambulâncias.
“Chamada iniciada às 00:00 e terminada às 00:00, do número xyz para o zyx. O alegado desconhecimento poderá ser código de reconhecimento secreto. Investigar se ‘latitas’ tem ligação ao comércio de urânio enriquecido, e se as referências e considerações sobre o potencial gastronómico de algumas cidades terá a ver com agendamento de acções de desestabilização social. Sugere-se à tutela o destacamento de dois agentes e dum pastor alemão para esta investigação”
Despacho na CV:
“Recolham-se as ambulâncias.
Facturação a debitar à http://www.velhosmarados.com/, SA”
Litania dum padre:
“A paz reinará no reino do Senhor, pese as ligações telefónicas serem falivelmente terrenas e de ímpias taxas. Sacrifica-se-Te um javali ou um robalo, e no Teu colo a paz dos teus cordeiros armados em carneiros será reencontrada”
Circular urgente da Interbanco:
“Cancelem-se-lhes os cartões de crédito. Para quem são, podem muito bem comer no McDonald’s”
Quando lhe contaram, resmungou o Web:
“É o que dá dois patos-bravos em cavalarias da net. Entusiasmam-se e refilam, mas o que eles querem é latitas”
Litania dum padre:
“A paz reinará no reino do Senhor, pese as ligações telefónicas serem falivelmente terrenas e de ímpias taxas. Sacrifica-se-Te um javali ou um robalo, e no Teu colo a paz dos teus cordeiros armados em carneiros será reencontrada”
Circular urgente da Interbanco:
“Cancelem-se-lhes os cartões de crédito. Para quem são, podem muito bem comer no McDonald’s”
Quando lhe contaram, resmungou o Web:
“É o que dá dois patos-bravos em cavalarias da net. Entusiasmam-se e refilam, mas o que eles querem é latitas”
poesia de Jorge Coimbra
Tenho um amigo que está a escrever um livro, e hoje contou-mo. O Jorge Coimbra, o Jone Chipangua da zona do mesmo nome, Beira, Moçambique. Aos que o lemos hoje e à boa novidade fugiu-nos logo o olho para o poema pois nem o Jone nem o Jorge poupam brios à boa rima, boa poesia. Descaradamente e sem lhe dizer nada puxo para aqui
O LIVRO
Se escrever um dia um livro
Será porque jamais algum terei aberto e lido
Será devido aquele saber, ofendido
E inocente, mas arrogante por me ter vencido
Se escrever um dia um livro
Quero escrevê-lo sem nunca o ler
Quero lê-lo sem sequer o escrever
O LIVRO
Se escrever um dia um livro
Será porque jamais algum terei aberto e lido
Será devido aquele saber, ofendido
E inocente, mas arrogante por me ter vencido
Se escrever um dia um livro
Quero escrevê-lo sem nunca o ler
Quero lê-lo sem sequer o escrever
Quero sofrê-lo por já o ter sofrido
A escrever…
Se escrever, eu, um dia um livro
Seja de capa dura ou de pequeno bolso
Quero que a verdade e a mentira soem a falso
Que passem as duas pelo mesmo crivo
Que tanto uma como a outra tenham o mesmo realce
Pelo percalço de uma à outra terem mentido
Se algum dia, eu, escrever um livro
Vai ter que ser antes de eu aprender a ler
Que não conheça eu palavras para escrever
Que mate qualquer frase antes dela nascer
E que reencarne e renasça antes de morrer
Que exista morto ao invés de sempre desistir vivo
E que morra muito antes de algum dia ter nascido…
É assim que escreverei o meu livro
Jorge Coimbra
A escrever…
Se escrever, eu, um dia um livro
Seja de capa dura ou de pequeno bolso
Quero que a verdade e a mentira soem a falso
Que passem as duas pelo mesmo crivo
Que tanto uma como a outra tenham o mesmo realce
Pelo percalço de uma à outra terem mentido
Se algum dia, eu, escrever um livro
Vai ter que ser antes de eu aprender a ler
Que não conheça eu palavras para escrever
Que mate qualquer frase antes dela nascer
E que reencarne e renasça antes de morrer
Que exista morto ao invés de sempre desistir vivo
E que morra muito antes de algum dia ter nascido…
É assim que escreverei o meu livro
Jorge Coimbra
Mararam o Norton?
Ontem o anti-vírus lembrou-mo, e aceitei a actualização das seringas. Esta manhã tinha as caixas de correio infestadas de “hi! is me!” com anexos, e não faço outra coisa que apagá-los e eles a multiplicarem-se. Parece-me que é como os processos na PGR, o caçador passou-se para o inimigo, contam os jornalistas de julgamentos.
Dias estranhos, nem de espingarda nos safamos de começar o dia com um estranho “wanna fuck?” capaz de pregar-nos uma gonorreia das antigas, daquelas de três injecções de terramicina um-milhão-de-unidades na nádega, dias seguidos e bochechas alternadas, denunciadora coxidela para quem das artes nocturnas percebia da poda. Em LM e nos tempos de puto e putanheiro pagava por cada uma 150$00 na ‘Cruz do Oriente’ no Alto Maé, agora as lojas de informática cobram três horas de mão-de-obra por desapertarem quatro parafusos e mudar a peça na ficha, e estou tramado se for apanhado nas malhas insondáveis da dona Justiça onde, confessa-se em inquérito e está agora em julgamento, o arquivamento das investigações tinha (tem? pergunto legitimamente…), tabela de custas sem recurso a apoio judiciário.
Merda para o Norton enganador, seu vendido!, merda para este saber contínuo que o vilipendiado dinheiro continua a isentar. E a bosta maior para todos os anti-vírus que não cumprem a sua função, dando as nossas alas ao inimigo a troco de “congratulation y win $100”, em anexo esta acidez social que me faz bater mal o software.
Dias estranhos, nem de espingarda nos safamos de começar o dia com um estranho “wanna fuck?” capaz de pregar-nos uma gonorreia das antigas, daquelas de três injecções de terramicina um-milhão-de-unidades na nádega, dias seguidos e bochechas alternadas, denunciadora coxidela para quem das artes nocturnas percebia da poda. Em LM e nos tempos de puto e putanheiro pagava por cada uma 150$00 na ‘Cruz do Oriente’ no Alto Maé, agora as lojas de informática cobram três horas de mão-de-obra por desapertarem quatro parafusos e mudar a peça na ficha, e estou tramado se for apanhado nas malhas insondáveis da dona Justiça onde, confessa-se em inquérito e está agora em julgamento, o arquivamento das investigações tinha (tem? pergunto legitimamente…), tabela de custas sem recurso a apoio judiciário.
Merda para o Norton enganador, seu vendido!, merda para este saber contínuo que o vilipendiado dinheiro continua a isentar. E a bosta maior para todos os anti-vírus que não cumprem a sua função, dando as nossas alas ao inimigo a troco de “congratulation y win $100”, em anexo esta acidez social que me faz bater mal o software.
terça-feira, maio 03, 2005
A cana de pesca
O escritório assemelha-se a uma biblioteca, talvez ao gabinete do director duma. A secretária no recanto da janela, por onde se vêm os cedros sob os quais almoçaram, é numa madeira mais escura que a das estantes que estão em todos os cantos, e os seus pés assemelham-se às patas dum animal que vigia os tesouros que as portas envidraçadas albergam, encadernações infindáveis de vidas que ele nunca conhecera. Todo o ambiente cheira a poder, há no ar, para além dos móveis caros, a diferença entre o ser rico e ser poder, não duvidaria um segundo se ele lhe contasse que, ali sentado, mais que gerir e criar fortunas perenes ali comandava exércitos ou influenciava governos. Um lustre que brilha em mil tons de cristal dá volume ao pé-alto do gabinete, num canto uma mesa com um candeeiro com o pé em bronze e jornais, duas cadeiras, no oposto um sofá em ‘éle’ com um monte de pastas de arquivo, como se ele lá tivesse estado sentado a estudar dossiers. Os passos soam-lhe na grossa carpete como turbilhões que perturbam o silêncio enquanto percorre vagarosamente a sala e olha as estantes, as lombadas em velhas encadernações, e mais uma vez olhou-o dissimuladamente atrás da secretária e, novamente, não o reconheceu. Poderoso. Rico. E muito mais velho, tal como ele, irreconhecíveis para além do fortuito que gerara o reencontro. Rico e poderoso como nunca sonhara conhecer pessoalmente alguém assim, e muito menos o velho amigo de quando foram iguais, na idade da igualdade que é gerada por as desigualdades serem outras, quem é mais forte ou mais esperto, tem namorada mais bonita, ou joga melhor um jogo qualquer. Antes de se perderem de vista, o outro dos prazeres da vida vivida na corda e enriquecendo como seria impossível prever, ele num salta e cai eterno, até pó e conflitos com a lei pelo meio, agora num cai que já se arrasta há tempo demais.
Ao almoço tinham falado da vida do antes, riram-se, teve diplomacia de não lhe perguntar o como, e ele fora educado ao não lhe perguntar o mesmo. Recordaram o liceu, os colegas e as colegas, os passeios e as aventuras, repisaram as memórias comuns e todos aqueles pormenores que vêm à cabeça de dois inseparáveis amigos juvenis que se reencontram trinta e tal anos depois, ora para além da décalage dos anos com a outra social que os tempos diferentes construíram entre eles. E entretiveram-se a derrubá-la, muros que foram demolidos e conquistados com delicadeza, atenções mútuas que o respeito do ontem longínquo impõe aos olhos que não são cegos às suas novas realidades, díspares, quase extremas. Foi suave, temeroso, os garotos de ontem cederam pele e voz muito lentamente ao homem que agora eram. Existia uma barreira de conversa proibida que ambos sentiam e estava presente nos silêncios quando as divagações nostálgicas se tornaram estéreis, o tema tabu dos irmãos desavindos sucesso e insucesso. Havia que reconstruir um mínimo do antes, sentiam-no ambos, desejava-o ele e temera não ser correspondido. As rugas, foram as rugas o mote, a divagação por elas passou às cicatrizes, o outro contou-lhe da morte dum filho ainda criança e, abrindo o seu peito ao afago do amigo de antes, deixou-o soltar também o seu suspiro, falar nas duas famílias desfeitas, do vício da droga que quase o vencera, deste amargo balanço que nas noites de insónia pelo temor das manhãs fazia ao tresmalho da vida, e as rugas pesavam cada uma uma desilusão, contou-lhas e explicou-lhas uma a uma e ele fez o mesmo às suas, olhos mútuos de confiança e serenidade, os mesmos olhos que assim o foram enquanto juvenis, entre eles renasceram no mostrar de chagas. Depois ele chamara-o para dentro da casa, à sombra das árvores que não eram dum jardim público porque os muros ao longe mostravam que era privado sucedeu o gabinete, e ele pedira-lhe uns minutos de privacidade e sentara-se à secretária, guardiã do seu próprio templo de poder.
Ele acabou de escrever e entregou-lhe um cheque. Olhou para a soma, enorme, para ele uma fortuna igual às que a vida nunca lhe ganhara. Ao portador. Uma fortuna ao portador, ele portador, ele seu portador. A pose atrás da secretária era familiarmente de poder, um poder natural que o seu corpo assumia quando a ela sentado, tão diferente da atitude descontraída de quando partilharam o jantar e divagaram em volta de nomes e locais do passado, o reencontro dos amigos que deuses fizeram o amigo rico e o amigo pobre. Os seus olhos ergueram-se e fitaram-no e sorriram-lhe, ei-lo de regresso quando me fita e olha-me e não me reconhece mas sim ao colega de tropelias, e ele que o fita também e não reconhece em quem assim assina e entrega um cheque ao portador o antigo colega de escola, parceiros com juras mútuas de amizade eterna, cumplicidades e ajudas mútuas naturais num tempo e que ninguém, via rugas da vida decorrida, espera ver de pé nem solicitá-las. Os olhos sorriram-lhe e as palavras também o fizeram, amigáveis, aquela fortuna era ao portador, nem um cêntimo tinha outro dono que ele, portador, nem outro fim diferente daquele que desejasse, eis a fortuna pura despida de origem e obrigações. Pela sua cabeça passam imensas coisas, o valor do cheque e o muito que com ele compraria, até luxos e sossego, o gesto do amigo de antes que ao reencontrarem-se soubera recordar o antes e utilizara o hoje na sua homenagem. Em seguida entregou-lhe outro cheque, e que dele e do seu preenchimento também não se apercebera antes. Outra vez o mesmo valor, os olhos saltaram dum cheque para o outro e ergueram-se interrogativos. “- tem o teu nome, esse não é ao portador” – e os seus olhos estavam evadidos do passado, havia uma muralha nova, e sentiu a incómoda presença da secretária e das suas pernas feitas garras de fera guardiã: “- multiplica-o, um dia iremos reencontrar-nos e deste que tem um nome faremos contas, é a tua garantia em como domas, no outro, o portador”. Muitos anos depois encontraram-se de novo e também por acaso, e já não havia só a memória juvenil para recordar, saudosista de si mesmos; havia a nova, do reencontro e do almoço sob os cedros dos outrora garotos agora soldados cicatrizados do viver, da secretária que era a guardiã, dos dois cheques. Ele entregou-lhe um, melhor: devolveu-lho. O ao portador.
Ao almoço tinham falado da vida do antes, riram-se, teve diplomacia de não lhe perguntar o como, e ele fora educado ao não lhe perguntar o mesmo. Recordaram o liceu, os colegas e as colegas, os passeios e as aventuras, repisaram as memórias comuns e todos aqueles pormenores que vêm à cabeça de dois inseparáveis amigos juvenis que se reencontram trinta e tal anos depois, ora para além da décalage dos anos com a outra social que os tempos diferentes construíram entre eles. E entretiveram-se a derrubá-la, muros que foram demolidos e conquistados com delicadeza, atenções mútuas que o respeito do ontem longínquo impõe aos olhos que não são cegos às suas novas realidades, díspares, quase extremas. Foi suave, temeroso, os garotos de ontem cederam pele e voz muito lentamente ao homem que agora eram. Existia uma barreira de conversa proibida que ambos sentiam e estava presente nos silêncios quando as divagações nostálgicas se tornaram estéreis, o tema tabu dos irmãos desavindos sucesso e insucesso. Havia que reconstruir um mínimo do antes, sentiam-no ambos, desejava-o ele e temera não ser correspondido. As rugas, foram as rugas o mote, a divagação por elas passou às cicatrizes, o outro contou-lhe da morte dum filho ainda criança e, abrindo o seu peito ao afago do amigo de antes, deixou-o soltar também o seu suspiro, falar nas duas famílias desfeitas, do vício da droga que quase o vencera, deste amargo balanço que nas noites de insónia pelo temor das manhãs fazia ao tresmalho da vida, e as rugas pesavam cada uma uma desilusão, contou-lhas e explicou-lhas uma a uma e ele fez o mesmo às suas, olhos mútuos de confiança e serenidade, os mesmos olhos que assim o foram enquanto juvenis, entre eles renasceram no mostrar de chagas. Depois ele chamara-o para dentro da casa, à sombra das árvores que não eram dum jardim público porque os muros ao longe mostravam que era privado sucedeu o gabinete, e ele pedira-lhe uns minutos de privacidade e sentara-se à secretária, guardiã do seu próprio templo de poder.
Ele acabou de escrever e entregou-lhe um cheque. Olhou para a soma, enorme, para ele uma fortuna igual às que a vida nunca lhe ganhara. Ao portador. Uma fortuna ao portador, ele portador, ele seu portador. A pose atrás da secretária era familiarmente de poder, um poder natural que o seu corpo assumia quando a ela sentado, tão diferente da atitude descontraída de quando partilharam o jantar e divagaram em volta de nomes e locais do passado, o reencontro dos amigos que deuses fizeram o amigo rico e o amigo pobre. Os seus olhos ergueram-se e fitaram-no e sorriram-lhe, ei-lo de regresso quando me fita e olha-me e não me reconhece mas sim ao colega de tropelias, e ele que o fita também e não reconhece em quem assim assina e entrega um cheque ao portador o antigo colega de escola, parceiros com juras mútuas de amizade eterna, cumplicidades e ajudas mútuas naturais num tempo e que ninguém, via rugas da vida decorrida, espera ver de pé nem solicitá-las. Os olhos sorriram-lhe e as palavras também o fizeram, amigáveis, aquela fortuna era ao portador, nem um cêntimo tinha outro dono que ele, portador, nem outro fim diferente daquele que desejasse, eis a fortuna pura despida de origem e obrigações. Pela sua cabeça passam imensas coisas, o valor do cheque e o muito que com ele compraria, até luxos e sossego, o gesto do amigo de antes que ao reencontrarem-se soubera recordar o antes e utilizara o hoje na sua homenagem. Em seguida entregou-lhe outro cheque, e que dele e do seu preenchimento também não se apercebera antes. Outra vez o mesmo valor, os olhos saltaram dum cheque para o outro e ergueram-se interrogativos. “- tem o teu nome, esse não é ao portador” – e os seus olhos estavam evadidos do passado, havia uma muralha nova, e sentiu a incómoda presença da secretária e das suas pernas feitas garras de fera guardiã: “- multiplica-o, um dia iremos reencontrar-nos e deste que tem um nome faremos contas, é a tua garantia em como domas, no outro, o portador”. Muitos anos depois encontraram-se de novo e também por acaso, e já não havia só a memória juvenil para recordar, saudosista de si mesmos; havia a nova, do reencontro e do almoço sob os cedros dos outrora garotos agora soldados cicatrizados do viver, da secretária que era a guardiã, dos dois cheques. Ele entregou-lhe um, melhor: devolveu-lho. O ao portador.