Fugas, vento &
Sempre gostei de salões de hotel, do seu ambiente onde se cruzam mundos, e, neste caso, da pouca lufa-lufa dum de província onde o silêncio do bar onde escrevo só é quebrado pelo som de raros passos vindos dos elevadores, uma ou outra conversa lá longe, na recepção. Neste silêncio corro o meu olhar e respiro tudo, neste nada há tanto para contar.
Há algo de mistura de kitsh e de deslumbramento novo-riquista neste meu gosto, mas há sobretudo o silêncio e o conforto, a ausência de televisores e de multidões a beber galões e a comer bolos, e há o vento que assobia enquanto o meu olhar se perde pela lezíria e o rio, as manchas de castanho entre o amarelo das terras arroteadas, a língua da ponte moderna e o brilho que o hoje tímido Sol faz espreitar aos carros, lá tão distantes que só os adivinho pelo brilho que me pousa na folha, embaraçado pelo vento que uiva.
Na capital por vezes procuro este ambiente de bares de hotéis pelo contrário, pelo bulício cosmopolita onde me dissimulo lendo-o como se estivesse na nave dum aeroporto, adivinhando em caras e sons as origens, buscando pormenores que satisfaçam curiosidades geográficas, cada qual especial, cada qual exótica nem que seja um livro na mão, um pin, um recuerdo da excursão. Tento adivinhar-lhes vivências específicas como se dum jogo de viagens fosse, não saindo da mansa rotina mais longe que um salão de hotel ou uma aerogare.
Neste caso e como atrás contado, é o calmo inverso que vivo e me dá vez e pretexto para olhar os óleos nas paredes que gritam manchas de cor e castas paisagens, os sofás vazios como um lenitivo exército pronto a receber em aconchego pés e almas, cansados de tanto olhar mundos com data e programa em curso. Olho as grandes portas envidraçadas que caiem sobre a piscina e o fundo da colina, e para além delas o vento que assobia, a lezíria, o rio e a ponte, o sossego que pára a vida e seus relógios, e sinto-me bem a escrevê-lo e contá-lo.
Não sei se os meteorologistas o predisseram mas hoje o céu mostra as suas nuvens e o seu azul pouco espreita entre os novelos que se acumulam em castelos bem-vindos, torres brancas que se constroem e reconstroem e de cujas ameias virá o vento, assobiando, clarim que soa forte para além dos vidros que não o ocultam. As nuvens são atravessadas por uma longa recta, também branca, um rasto, mais caras e pormenores rumo a um aeroporto e rumo a muitos hotéis e seus salões e bares, mais munições para mim, ávido delas, vampiro que nelas rouba dissimuladamente os seus viveres e imagina os restantes (a barmaid olha-me sorrateiramente, curiosa com o afã escrevinhador; e eu centro nela o sugar de vida para a caneta, dela escrevo que tem uma trança numa cara simples e bonita, vulgar e sem traços de vedeta na guerra dos sexos, é por isso naturalmente bela; volto ao salão e aos óleos, o vento chamou-me e eu vou)
Este hall é também salão e bar pois é enorme, fronteiro ao restaurante onde as mesas vazias mostram construções de guardanapos a que o/a chefe-de-sala chamará amorosamente de ‘intervenções’, e donde adivinho nalgum recanto uma conversa sussurrada mais prolongada (são quase três da tarde). Este átrio é enorme e o meu olhar saltita contornando colunas , perde-se em atenções à música que paira baixinho (sim, é Chuck Berry e aqueles solos ainda me agitam quando com eles me cruzo), reparo que um dos quadros copia a paisagem onde o vento assobia, mas não tem a ponte. Vagueio entre um óleo e outro e concluo que ao do quadro na parede falta o ar que assobia, tem as nuvens mas elas estão emudecidas. Mais que a paisagem que vai dum lado ao outro, para além da ponte cuja falta assinalo - mas a tela que sinto ser tão grande diz-me que a dispenso, o pincel do artista não colheu da paleta o vento e suas cores, o assobio, não revelou o respirar dos deuses adormecidos nos seus castelos. Faltou tinta e pincel para contar-me o ar que olho pela vidraça, o ouço, o sinto, e o vejo no seu longo assobio de verão. Não gosto quando um quadro se assemelha demais a uma fotografia. Aí, ele perde sempre porque não tem a ponte. Gosto de quadros que falem e cantem, que tenham o assobio do ar e o brilho do céu presentes até no opaco castanho do longo mundo que se olha antes de, esperançosamente, os olhos procurarem os quadros nas paredes, assinaturas de visões contadas em gozosas mil cores que ignoram o pormenor dos veios das folhas mas que contam como ela abana ao vento, e caiem a meus olhos como se as colhesse.
Há poucos meses atrás fui buscar um amigo ao aeroporto e, via atrasos, dei por mim com a caneta a ronronar, feliz, escrevendo e contando o ambiente, o meu fascínio, o meu kitsh profundo que me sacia. E também escrevi da curiosidade dos meus vizinhos de banco, de como era giro escrever sobre eles que estavam a tentar adivinhar o que eu escrevia. Nem sei bem porquê (o tempo? o tempo que tanto pára e dele assim o conto, como falta tempo para depois o contar?) nunca publiquei a crónica que por aqui mora, irmã desta num dos caderninhos que me acompanham e onde acumulo inéditos que nunca serão publicáveis. Estes cadernos são práticos, cabem bem num bolso e facilmente arrumáveis na pochette, desde que os descobri acompanham-me para todo o lado. Ajudam-me a escrever em tudo o que é sítio onde o ‘clik’ soe, e com eles escrevo em salões de hotéis vazios ou cheios, a olhar o rio e o vento que assobia, as malas high-tech e as donzelas blonde-tech, adivinhando vidas, em aeroportos que são pontes maiores que esta que o artista do óleo na parede não pintou e disso hoje terá sincera pena, talvez mais do que da ausência do vento que tanto assobia agora, um lamento irado que que se ouve e soa como grito contínuo, que escala o cabeço desde a paisagem lá em baixo, onde está a ponte, e que alguém colocou na parede sem ambas: a ponte, e o vento e o seu uivo. Em excesso, estou em mim que o vento grita que o quadro só estará completo quando o contar a assobiar, nem que em abuso de realismo demole a ponte lá em baixo, zangado com a má perfeição.
Agora, cá dentro, há gente que chega e outros que partem. Os hotéis são o prolongar natural dos aeroportos, aqui ou lá alço-me, percorro nos passos e trajes dos outros os caminhos que nunca trilhei, esconjuro cimentos que me pesam e tolhem passos, voo escrevendo e contando o ar que assobia e a barmaid que me espreita, o trio que chega com os trolleys que chiam no espelhado do chão, sorvo um último trago da paisagem, tão bonito que é o sorriso dela, acho que vou lá comprar-lhe cigarros e vou-me embora pois o vento eriçou em mim cabelos que sonho ainda serem revoltos e rebeldes, fecho o caderno e vou-me embora, lá fora a lezíria e a ponte, o assobio, fecho o caderno onde voo antes que o ar se cale e me silencie como ao quadro que jaz morto, lá naquela parede.
Há algo de mistura de kitsh e de deslumbramento novo-riquista neste meu gosto, mas há sobretudo o silêncio e o conforto, a ausência de televisores e de multidões a beber galões e a comer bolos, e há o vento que assobia enquanto o meu olhar se perde pela lezíria e o rio, as manchas de castanho entre o amarelo das terras arroteadas, a língua da ponte moderna e o brilho que o hoje tímido Sol faz espreitar aos carros, lá tão distantes que só os adivinho pelo brilho que me pousa na folha, embaraçado pelo vento que uiva.
Na capital por vezes procuro este ambiente de bares de hotéis pelo contrário, pelo bulício cosmopolita onde me dissimulo lendo-o como se estivesse na nave dum aeroporto, adivinhando em caras e sons as origens, buscando pormenores que satisfaçam curiosidades geográficas, cada qual especial, cada qual exótica nem que seja um livro na mão, um pin, um recuerdo da excursão. Tento adivinhar-lhes vivências específicas como se dum jogo de viagens fosse, não saindo da mansa rotina mais longe que um salão de hotel ou uma aerogare.
Neste caso e como atrás contado, é o calmo inverso que vivo e me dá vez e pretexto para olhar os óleos nas paredes que gritam manchas de cor e castas paisagens, os sofás vazios como um lenitivo exército pronto a receber em aconchego pés e almas, cansados de tanto olhar mundos com data e programa em curso. Olho as grandes portas envidraçadas que caiem sobre a piscina e o fundo da colina, e para além delas o vento que assobia, a lezíria, o rio e a ponte, o sossego que pára a vida e seus relógios, e sinto-me bem a escrevê-lo e contá-lo.
Não sei se os meteorologistas o predisseram mas hoje o céu mostra as suas nuvens e o seu azul pouco espreita entre os novelos que se acumulam em castelos bem-vindos, torres brancas que se constroem e reconstroem e de cujas ameias virá o vento, assobiando, clarim que soa forte para além dos vidros que não o ocultam. As nuvens são atravessadas por uma longa recta, também branca, um rasto, mais caras e pormenores rumo a um aeroporto e rumo a muitos hotéis e seus salões e bares, mais munições para mim, ávido delas, vampiro que nelas rouba dissimuladamente os seus viveres e imagina os restantes (a barmaid olha-me sorrateiramente, curiosa com o afã escrevinhador; e eu centro nela o sugar de vida para a caneta, dela escrevo que tem uma trança numa cara simples e bonita, vulgar e sem traços de vedeta na guerra dos sexos, é por isso naturalmente bela; volto ao salão e aos óleos, o vento chamou-me e eu vou)
Este hall é também salão e bar pois é enorme, fronteiro ao restaurante onde as mesas vazias mostram construções de guardanapos a que o/a chefe-de-sala chamará amorosamente de ‘intervenções’, e donde adivinho nalgum recanto uma conversa sussurrada mais prolongada (são quase três da tarde). Este átrio é enorme e o meu olhar saltita contornando colunas , perde-se em atenções à música que paira baixinho (sim, é Chuck Berry e aqueles solos ainda me agitam quando com eles me cruzo), reparo que um dos quadros copia a paisagem onde o vento assobia, mas não tem a ponte. Vagueio entre um óleo e outro e concluo que ao do quadro na parede falta o ar que assobia, tem as nuvens mas elas estão emudecidas. Mais que a paisagem que vai dum lado ao outro, para além da ponte cuja falta assinalo - mas a tela que sinto ser tão grande diz-me que a dispenso, o pincel do artista não colheu da paleta o vento e suas cores, o assobio, não revelou o respirar dos deuses adormecidos nos seus castelos. Faltou tinta e pincel para contar-me o ar que olho pela vidraça, o ouço, o sinto, e o vejo no seu longo assobio de verão. Não gosto quando um quadro se assemelha demais a uma fotografia. Aí, ele perde sempre porque não tem a ponte. Gosto de quadros que falem e cantem, que tenham o assobio do ar e o brilho do céu presentes até no opaco castanho do longo mundo que se olha antes de, esperançosamente, os olhos procurarem os quadros nas paredes, assinaturas de visões contadas em gozosas mil cores que ignoram o pormenor dos veios das folhas mas que contam como ela abana ao vento, e caiem a meus olhos como se as colhesse.
Há poucos meses atrás fui buscar um amigo ao aeroporto e, via atrasos, dei por mim com a caneta a ronronar, feliz, escrevendo e contando o ambiente, o meu fascínio, o meu kitsh profundo que me sacia. E também escrevi da curiosidade dos meus vizinhos de banco, de como era giro escrever sobre eles que estavam a tentar adivinhar o que eu escrevia. Nem sei bem porquê (o tempo? o tempo que tanto pára e dele assim o conto, como falta tempo para depois o contar?) nunca publiquei a crónica que por aqui mora, irmã desta num dos caderninhos que me acompanham e onde acumulo inéditos que nunca serão publicáveis. Estes cadernos são práticos, cabem bem num bolso e facilmente arrumáveis na pochette, desde que os descobri acompanham-me para todo o lado. Ajudam-me a escrever em tudo o que é sítio onde o ‘clik’ soe, e com eles escrevo em salões de hotéis vazios ou cheios, a olhar o rio e o vento que assobia, as malas high-tech e as donzelas blonde-tech, adivinhando vidas, em aeroportos que são pontes maiores que esta que o artista do óleo na parede não pintou e disso hoje terá sincera pena, talvez mais do que da ausência do vento que tanto assobia agora, um lamento irado que que se ouve e soa como grito contínuo, que escala o cabeço desde a paisagem lá em baixo, onde está a ponte, e que alguém colocou na parede sem ambas: a ponte, e o vento e o seu uivo. Em excesso, estou em mim que o vento grita que o quadro só estará completo quando o contar a assobiar, nem que em abuso de realismo demole a ponte lá em baixo, zangado com a má perfeição.
Agora, cá dentro, há gente que chega e outros que partem. Os hotéis são o prolongar natural dos aeroportos, aqui ou lá alço-me, percorro nos passos e trajes dos outros os caminhos que nunca trilhei, esconjuro cimentos que me pesam e tolhem passos, voo escrevendo e contando o ar que assobia e a barmaid que me espreita, o trio que chega com os trolleys que chiam no espelhado do chão, sorvo um último trago da paisagem, tão bonito que é o sorriso dela, acho que vou lá comprar-lhe cigarros e vou-me embora pois o vento eriçou em mim cabelos que sonho ainda serem revoltos e rebeldes, fecho o caderno e vou-me embora, lá fora a lezíria e a ponte, o assobio, fecho o caderno onde voo antes que o ar se cale e me silencie como ao quadro que jaz morto, lá naquela parede.

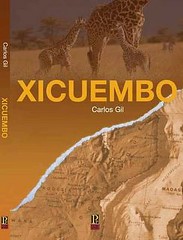


1 Comments:
ADOREI este 'post' - beijo, muf'.
Enviar um comentário
<< Home