Porquê?
Cara Teresa - espero que me permita que a trate assim…
Hoje foi a segunda vez em que venho reler esta mensagem(*) e suas réplicas, e detenho-me na sua. As diferenças do olhar sobre o passado, exercício impossível se se excluírem as experiências pessoais. Como os vizinhos do terceiro direito e do oitavo esquerdo, o mesmo prédio e a mesma rua, para além das delícias do imóvel os seus quotidianos são diferentes, as cores das paredes e os objectos que as adornam, no futebol quando um grita a alegria outro chora a derrota, as suas recordações do hoje no amanhã, mesmo prédio e mesma rua, serão diferentes. O fim do Moçambique colonial, aquilo que eu gosto de chamar “os anos loucos”, primeira metade da década de setenta do falecido, não é tema de conciliação fácil nas nossas visões, díspares em muito, ora pretexto para uma reflexão pessoal sobre o nosso comum passado.
Repare: não está em causa o nosso amor comum, a carícia à memória que nos traz a palavra Moçambique e os anos de encanto que a perpetuam no sentir e a sobrevivem a décadas de distância. Não é isso, sei que ambos recordamos com carinho o que merece ser assim tratado, um país naturalmente belo, uma (nossa) juventude que sorria ao viver, e este correspondia-lhe nas línguas de sol que lambiam o dia-a-dia na linda cidade que LM era, e pelo beijo que o mar nos dava e lavava as inevitáveis agruras do crescer, a magia de África logo ao lado do último cimento das cidades, imenso jardim de capim, selvagem, bonito, especial. Essa magia, o feitiço – conceda-me o “xicuembo”…, ambos o conhecemos e sabemos que é inato, veio com a bênção da criação que a bafejou no princípio de tudo, antes do Homem. Naqueles tempos, fim da era colonial portuguesa – o tal império de que fala, falido de tanto e até de moral para em paz de consciência ousar pensar que ser-lhe-ia legítimo sobreviver, “naqueles tempos” assistíamos, actores múltiplos, ao fim do engano, da farsa política que acabou por implodir, e todos nós perto demais para não sentir a força da derrocada, um tossir perpétuo às poeiras que toldaram a paisagem. Eu sou daqueles que, perante o furúnculo, defendo o seu lancetamento à absorção da purulenta concentração, lesiva do escorreito e são. Vou tentar explicar-me melhor. Dir-me-á cara Teresa, se um Homem e uma Mulher, apaixonados como lhe pode e deve acontecer quando as suas vidas se cruzam, não deverão entre si celebrar esse sentimento, estender as carícias a um viver comum. Acasalar, em suma, que por significado também inclui viver dias e noites comuns quando a paixão não é passageira. Falo em sentimentos simples e comuns como o celebrado amor. Na sociedade colonial, sendo ele branco e ela negra, ela era olhada pela cidade de cimento como uma ‘puta’ privada, e de dele não se dizia ser apaixonado mas sim cafrealizado. Não invoco o inverso pigmentário por dele não ter a mínima memória; uma branca e um negro assumirem publicamente que gostavam um do outro, versão adulta, em mim é memória inexistente do quotidiano visual, naqueles tempos. Esses amores que são naturais entre um Homem e uma Mulher que se cruzam, acasalamentos humanos, eram mantidos secretos muito para além do recato do privado que as paixões aconselham. E eu não entendo, lamento a falha cromática na paleta de quem então pintava o quadro onde todos vivíamos, supostamente felizes por a mão que pinta as pinceladas do quotidiano reprovar e marginalizar as pinceladas autónomas, livres e fruto exclusivo do sentir.
Mas saiamos da esfera íntima e olhemos a cidade, vamos percorrer juntos as bonitas avenidas e vamos sentir o rubro das acácias, o cheiro do mar nas praias do ‘Miramar’ e do ‘Dragão’ que se enchiam aos fins-de-semana de multidões alegres, uma alegria esfuziante de viver que estava na génese do espécime Laurentino, ser alegre e empreendedor, comunicativo e no grande global massa feliz. Recordemos até a “volta dos tristes”, os carros parados ao longo da areia quente, os rádios onde se ouve o relato da ‘metrópole’, os pregos trinchados e os camarões no ‘grego da Costa do Sol’, e eu em memória mais pessoal os deliciosos lanches que a minha mãe fazia e eu comia enquanto brincava na areia, fina, quente, húmus que ajudava crescer e acreditar que aquela felicidade era perpétua e os tempos do mundo eram imutáveis, ‘aqueles tempos’ deveriam eternizar-se. Subamos a um desses arranha-céus ou toquemos campainhas em prédios mais modestos, visitemos amigos em casas com lindos jardins sejam eles no bairro do Fomento ou no Triunfo, Matola ou Polana. Quantas caras negras se vêem nesta volta, cara Teresa? Quantas famílias negras em convívio assaloiado em volta dum relato de futebol e de conversas sobre bordados, um frango assado, todos acotovelados num carro em segunda mão? quantos miúdos negros, ‘mufanas’, em brincadeiras felizes chapinhando na água, lado a lado com os seus amigos brancos, outros ‘mufanas’, sob o olhar vigilante de irmãos e pais que conversam estendidos na areia? quantos inquilinos negros abririam as portas cujas campainhas tocamos nesta voltinha pelo passado? para além dos serviçais, claro, desculpe-me a ironia mas acho que o sistema colonial tinha horror à possibilidade (que, então, nem academicamente se podia pôr) de haver um patrão negro que tivesse um mainato filho da Beira Alta ou da Baixa, um branco, à hipótese de uma ‘pitinha’ branca seduzir-se pelos bíceps dum rapaz negro, vice-versa dele pela feminilidade corporal emergente dela. Afinal os prédios e as praias eram racistas e só abrigavam e bronzeavam os alvos, tão alvos como eram excessivamente alvas as inesquecíveis piscinas onde passamos ociosas tardes roubadas à escola e onde não me recordo de ver negros brincarem, rirem, namoriscarem, afinal o saudável do natural aprender para crescer. Mais uma vez eu olho o passado e acho que o quadro revela pouca ousadia da mão do seu pintor, quando se olham pormenores da espectacular paisagem. E se não era racismo, se o meu delírio já turva a verdadeira cor das memórias desse passado? aceite a hipótese de exagero sobrevém-me a outra explicação possível. As desigualdades sociais e a sua estratificação, uns cinco por cento a serem fruidores da quase totalidade da propriedade privada de valor económico, Estado excluído. Uma vez escrevi-o e vou de si, cara Teresa, pedir-lhe também ajuda para dizer-me quantos negros conheceu, chefes de família com uma vida de trabalho e dificuldades e filhos educados – a situação normal dum cidadão!..., que aos cinquenta anos e trabalhando desde os doze, negros, possuíssem o seu próprio automóvel? exagero se lhe disser que era difícil encontrar um número que conte, pouco mais que dedos que temos nas mãos? Este homem de uma vida de trabalho e de luta, digna, seria proprietário duma ‘Florett’, e não era luxo para todos os negros nestas condições. Eis a regra, no inverso víamos a baixa da cidade com engarrafamentos de trãnsito, nos carros de trabalho muitas faces negras e algumas brancas, nos particulares só se viam caras brancas. Eis a cidade, cimento, mas havia outra, maior, caniço e zinco, gente qu se levantava às cinco da manhã para apanhar o comboio e ir trabalhar na cidade de cimento, às seis os que tinham machimbombo. Lembra-se dos machimbombos Teresa? neles fiz mil e uma tropelias, esmerei-me em aprender a descê-los em andamento e em grande estilo, na vinda da escola colaborava na algazarra que, muitas vezes, levava os desesperados chofer e ‘alicate’ a levarem-no directo para a esquadra do Alto Maé pois o chapéu do cobrador tinha desaparecido. E, quando ia para a praia tentava falsificar os furinhos no passe, para que eles não faltassem depois nas viagens para a escola. Morei na Mafalala e ia muito à praia, essas carreiras de machimbombos eram-me bem conhecidas; afirmo sem grande receio de erro que, extra horas de ponta, as lindas praias que felizardos dignos de legítima inveja desfrutavam eram servidas por igual número de viaturas que os bairros residenciais da Mafalala e do Xipamanine… Sim, havia duas cidades, a de cimento, branca e com pequenas margens na sua raia onde a miscigenação acontecia mas com exclusão da raça maioritária, a negra. Havia a outra cidade, caniço, servida dos restos da outra e onde tudo faltava, saneamento fora das poucas ruas de alcatrão, electricidade para além das ruas em areia mais largas e onde estão as cantinas. Eu morava na av. de Angola e não havia na zona uma escola primária, fui para a João de Deus no Alto Maé, na orla das barreiras e a quilómetros de casa. Casa essa que era um prédio de cimento num mar de palhotas onde viviam milhares de miúdos que não iam à escola (escola aquela onde aprendi as paragens e apeadeiros da linha do Norte ou da do Tua, mas nunca a de Nampula ou de Vila Pinto Teixeira). É esta a paisagem urbana que conheci e onde fui feliz, mista, o fascínio dos prédios e das praias, também o do labirinto do caniço onde corria, ia às mangas nas costas do dono ou arrastava o meu papagaio de papel, por mim feito e sonhado alado. Na sociedade colonial os olhos não são iguais quando percorrem as avenidas traçadas a régua e esquadro, domicílio para uns e que são sempre os mesmos, visita para outros e que são também sempre dos outros. Há ser-se negro e ser-se branco, e a beleza natural ou que o Homem moldou não é servida em bandejas iguais, não me diga, cara Teresa, que paisagem e restos de bolo é igual a paisagem e refeição completa, que a partilha das benesses do viver em Moçambique era igual para todos ou não haviam mesas diferentes nas cervejarias (zonas de periferia; os negros não frequentavam as da cidade formal e por alguma razão seria), eram as do canto que ‘os pretos’ usavam. Estarei a exagerar também aqui, Teresa?
(...) O ‘movimento do 7 de Setembro’ foi um erro político total, pugnando por manter a discussão nesta esfera. O mundo nunca permitiria uma segunda Rodésia, as independências africanas sucedem-se desde os anos cinquentas com exemplos de estabilidade e outros de turvação social. Vive-se a guerra-fria e os novos países (e os antigos…) são jogados na mesa do poder global segundo os interesses dos únicos donos do jogo, as super-potências. Mas sou um optimista quando penso no ser humano e ouso citar uma Zâmbia ou um Malawi, uma Tanzânia, todos bem próximos e filhos dum colonialismo que soube extinguir-se na altura correcta, um Senegal ou até o Zaire, francófonos. Todos com os seus problemas (nacionais! eis a diferença e o problema!...), mas independências afirmadas e orgulhosas e não aquele estatuto de não sei quê que crismava as colónias de estados, cosmética falaciosa do colonialismo que em nada alterava a verdade de Moçambique ser o produtor de açúcar e ele lá custar mais do dobro do preço que custava na ‘metrópole’. O ‘7 de Setembro’ e o ’21 de Outubro’ e os seus horrores é faceta do passado que tenho pudor em comentar, por respeito às vítimas e pelos meus traumas pessoais sobre esses dias horríveis, assassinos dum futuro que se acreditava mais puro, mais solidariamente humano. Deles mantenho a convicção intacta à que, na época, em mim incuti. Que os seus fomentadores, os que viabilizaram a sua face de horror ”roçam perigosamente a fronteira que separará um sonhador dum criminoso sendo fraco argumento atenuante a inconsciência”. Aplicável a ambos os extremismos em liça. Não se desencadeiam movimentos de massas em cima de barris de pólvora sem assumir as responsabilidades do seu movimento descontrolado, necessariamente violento como o duma manada que se sente ameaçada por predadores e em tropel insensato e cego arrasa direitos, incluindo os mínimos que ao ser humano assistem, ser livre de acertar ou errar nas suas escolhas sociais e políticas, e claro que o de não ser chacinado porque tem o boné errado no estádio errado. (...) Os julgamentos populares nunca me foram simpáticos e acrescento que muito felizmente, sejam eles políticos e de fases em que os calores revolucionários inflamam o discernimento e turvam respeitos a direitos humanos elementares, ou aos de café em que se crucifica por inveja ou maldade as figuras públicas, o sucesso alheio que o nosso insucesso olha com inveja e má-fé. Tenho pejo em conjecturar sobre o que seria a minha (nossa) vida se não tivessem acontecido o “7/9” e o “21/10”, guilhotinando um ramo muito emotivo da árvore do sonho que em mim nascera e crescia, tudo na altura própria para encarnar os sonhos e antes desta velha carcaça ter assumido esta personalidade resmungona, ácida em excesso, e para eles, exageros, rogo a sua indulgência. Nos Grupos MSN e no blogue, sobre estas datas tão tristes, que me lembre, só fiz o comentário que acima linko, seco, seco como eu me sinto quando penso na leviandade da História que tão facilmente nela aceita páginas de horrores, sem um claro não que, definitivamente, nunca mais as escreva. Estão passados trinta anos mas não é essa prescrição que quero citar, é a do arrependimento sincero que sentirá quem se olha e humedecem-se-lhe os olhos quando reconhece que há cabelos brancos justificados, penitência eterna enquanto os olhos não se apagarem à luz da consciência. A única prescrição válida deverá encontrar-se aí, olhos nos olhos e no silêncio da consciência. Para os horrores das revoluções de massas, para os horrores particulares com que vamos enchendo os dias. É amargura não só duma via pois tenho um único coração para duas grandes mátrias (expressão muito feliz da minha amiga Isabella Oliveira referindo a sua dualidade de sentimentos, que eu adopto), e ele chora, resmunga ou indigna-se quando os jornais trazem sombras ao presente.
A Teresa terá sido como eu, salvas as diferenças e adiantadas as desculpas pela pretensão. Zangou-se “n” vezes com a falta de liberdade e, nos momentos de maior desconsolo pela injustiça de que se sentia alvo sonhou ver a maioridade abreviada, a libertação plena e o usufruto da sua gestão como bem lhe apetecesse – aos quinze ser livre é ser-se maior de idade… Mais coisa menos coisa terá sido assim, idem comigo e idem com todos. Duvida a Teresa que, com ou sem 25A, vencesse quem vencesse a guerra, Moçambique seria independente até final da década de setenta, bem antes dos muros ruírem? Eu era um puto, mas um puto atento às conversas ‘dos adultos’. Nem me refiro às familiares que eram quase ausentes de vertente política e, quando a abordavam, era na apologia do situacionismo; refiro-me em concreto a outras doutros meios, académico, jornalístico, cultural. Tudo proporcionalmente pois eu era um simples puto, mas sempre tive um espírito curioso e uma grande sede em aprender, aprendendo assim a questionar os chamados factos consumados da realidade. Pela minha memória desses tempos e pelo que entretanto aprendi ouvindo e lendo afirmo com boa carga de certeza que, na sociedade laurentina dos tais “anos loucos”, setentas, fim do império colonial português, não existia um sentimento de portucalidade mais forte que o ténue institucional, residual na sociedade civil e com óbvia excepção ao serviço militar que formava os seus guerreiros física, técnica e psicologicamente. A ‘metrópole’ era uma coisa distante, local da família, a terra onde viviam os políticos desconhecidos que mandavam por procuração concedida a “governadores”, também eles todos de lá oriundos e que para lá voltavam finda a ‘comissão’. Milhares de quilómetros de distância, tão excessivos que ninguém a isso conseguia fechar olhos e deixar de resmungar ao seu arcaico, caricato, ofensivo. Moçambique e os moçambicanos queriam ser independentes, incluindo-se no desejo os seus de origem portuguesa. Resta saber como seria, se pela humilhação da derrota militar ou por uma ruptura política com o fornecedor de governadores e, depois, entendimento sério e não demagógico com quem há dez anos lutava de armas na mão por esse justo objectivo. Moçambique carecia da sua independência como todas as outras colónias portuguesas, como todas as colónias do mundo. Da sua maioridade plena, não espartilhada por estatutos pseudo-especiais que são sempre subterfúgios para perpetuar o injustificável, medieval domínio dum país por outro baseados em longínquas e arcaicas supremacias de canhões e caravelas, em discutíveis superioridades culturais ou, até, de modos de vida social. Afasto a questão religiosa, repare, pois essa instituição desde os tempos dos padrões que não acerta passo com a realidade, missionária estranha que converte ateus pobres em pobres convertidos, com a bênção do conselho à resignação em vida, pois o paraíso não é terreno… Sobre a acção da Pide, como certamente compreenderá, mui diplomaticamente não vou falar mais do que já disse noutras alturas e lugares: é das tais matérias onde não aceito argumentos de defesa a comportamentos selvagens, bárbaros, sob nenhuma luz ou prisma justificáveis.
Moçambique. Repare na palavra, no seu feitiço, em como ela invoca paixões, e em como é triste ver que arrola ódios. Sabe Teresa, penso que no rol de testemunhas a seu favor há que nunca esquecer os dezoito milhões de moçambicanos lá residentes, os quatro milhões na emigração económica, e as ‘nossas’ centenas de milhar em diáspora por fortuito histórico. Todos amamos Moçambique, e todos sofremos quando ele sangra. Vou finalmente terminar. Há tantas palavras sempre por dizer quando as emoções avocadas são assim fortes… Tenho um amigo dos tempos da Mafalala que é o José Alberto Sitoe. É poeta popular, dos becos no caniço e do vinho ordinário das cantinas, amigo desde os tempos dos calções e das sandálias, pasta escolar debaixo da árvore e muitos golos em balizas que só os paus de caniço sabem desenhar no tal retrato “daqueles tempos” que gostamos de contemplar de vez em quando. Não sei se ele tem também duas mátrias ou só uma pátria. Recentemente recebi alguns poemas dele e deixo-lhe aqui um para que o leia e sinta, sinta a diferença de olhares, por favor.
Com muito carinho pela nossa terra comum, deixo-lhe a si, Teresa, um forte abraço.
Carlos Gil
Machamba
A enxada ergue-se e cai
ritmadamente Hoje foi a segunda vez em que venho reler esta mensagem(*) e suas réplicas, e detenho-me na sua. As diferenças do olhar sobre o passado, exercício impossível se se excluírem as experiências pessoais. Como os vizinhos do terceiro direito e do oitavo esquerdo, o mesmo prédio e a mesma rua, para além das delícias do imóvel os seus quotidianos são diferentes, as cores das paredes e os objectos que as adornam, no futebol quando um grita a alegria outro chora a derrota, as suas recordações do hoje no amanhã, mesmo prédio e mesma rua, serão diferentes. O fim do Moçambique colonial, aquilo que eu gosto de chamar “os anos loucos”, primeira metade da década de setenta do falecido, não é tema de conciliação fácil nas nossas visões, díspares em muito, ora pretexto para uma reflexão pessoal sobre o nosso comum passado.
Repare: não está em causa o nosso amor comum, a carícia à memória que nos traz a palavra Moçambique e os anos de encanto que a perpetuam no sentir e a sobrevivem a décadas de distância. Não é isso, sei que ambos recordamos com carinho o que merece ser assim tratado, um país naturalmente belo, uma (nossa) juventude que sorria ao viver, e este correspondia-lhe nas línguas de sol que lambiam o dia-a-dia na linda cidade que LM era, e pelo beijo que o mar nos dava e lavava as inevitáveis agruras do crescer, a magia de África logo ao lado do último cimento das cidades, imenso jardim de capim, selvagem, bonito, especial. Essa magia, o feitiço – conceda-me o “xicuembo”…, ambos o conhecemos e sabemos que é inato, veio com a bênção da criação que a bafejou no princípio de tudo, antes do Homem. Naqueles tempos, fim da era colonial portuguesa – o tal império de que fala, falido de tanto e até de moral para em paz de consciência ousar pensar que ser-lhe-ia legítimo sobreviver, “naqueles tempos” assistíamos, actores múltiplos, ao fim do engano, da farsa política que acabou por implodir, e todos nós perto demais para não sentir a força da derrocada, um tossir perpétuo às poeiras que toldaram a paisagem. Eu sou daqueles que, perante o furúnculo, defendo o seu lancetamento à absorção da purulenta concentração, lesiva do escorreito e são. Vou tentar explicar-me melhor. Dir-me-á cara Teresa, se um Homem e uma Mulher, apaixonados como lhe pode e deve acontecer quando as suas vidas se cruzam, não deverão entre si celebrar esse sentimento, estender as carícias a um viver comum. Acasalar, em suma, que por significado também inclui viver dias e noites comuns quando a paixão não é passageira. Falo em sentimentos simples e comuns como o celebrado amor. Na sociedade colonial, sendo ele branco e ela negra, ela era olhada pela cidade de cimento como uma ‘puta’ privada, e de dele não se dizia ser apaixonado mas sim cafrealizado. Não invoco o inverso pigmentário por dele não ter a mínima memória; uma branca e um negro assumirem publicamente que gostavam um do outro, versão adulta, em mim é memória inexistente do quotidiano visual, naqueles tempos. Esses amores que são naturais entre um Homem e uma Mulher que se cruzam, acasalamentos humanos, eram mantidos secretos muito para além do recato do privado que as paixões aconselham. E eu não entendo, lamento a falha cromática na paleta de quem então pintava o quadro onde todos vivíamos, supostamente felizes por a mão que pinta as pinceladas do quotidiano reprovar e marginalizar as pinceladas autónomas, livres e fruto exclusivo do sentir.
Mas saiamos da esfera íntima e olhemos a cidade, vamos percorrer juntos as bonitas avenidas e vamos sentir o rubro das acácias, o cheiro do mar nas praias do ‘Miramar’ e do ‘Dragão’ que se enchiam aos fins-de-semana de multidões alegres, uma alegria esfuziante de viver que estava na génese do espécime Laurentino, ser alegre e empreendedor, comunicativo e no grande global massa feliz. Recordemos até a “volta dos tristes”, os carros parados ao longo da areia quente, os rádios onde se ouve o relato da ‘metrópole’, os pregos trinchados e os camarões no ‘grego da Costa do Sol’, e eu em memória mais pessoal os deliciosos lanches que a minha mãe fazia e eu comia enquanto brincava na areia, fina, quente, húmus que ajudava crescer e acreditar que aquela felicidade era perpétua e os tempos do mundo eram imutáveis, ‘aqueles tempos’ deveriam eternizar-se. Subamos a um desses arranha-céus ou toquemos campainhas em prédios mais modestos, visitemos amigos em casas com lindos jardins sejam eles no bairro do Fomento ou no Triunfo, Matola ou Polana. Quantas caras negras se vêem nesta volta, cara Teresa? Quantas famílias negras em convívio assaloiado em volta dum relato de futebol e de conversas sobre bordados, um frango assado, todos acotovelados num carro em segunda mão? quantos miúdos negros, ‘mufanas’, em brincadeiras felizes chapinhando na água, lado a lado com os seus amigos brancos, outros ‘mufanas’, sob o olhar vigilante de irmãos e pais que conversam estendidos na areia? quantos inquilinos negros abririam as portas cujas campainhas tocamos nesta voltinha pelo passado? para além dos serviçais, claro, desculpe-me a ironia mas acho que o sistema colonial tinha horror à possibilidade (que, então, nem academicamente se podia pôr) de haver um patrão negro que tivesse um mainato filho da Beira Alta ou da Baixa, um branco, à hipótese de uma ‘pitinha’ branca seduzir-se pelos bíceps dum rapaz negro, vice-versa dele pela feminilidade corporal emergente dela. Afinal os prédios e as praias eram racistas e só abrigavam e bronzeavam os alvos, tão alvos como eram excessivamente alvas as inesquecíveis piscinas onde passamos ociosas tardes roubadas à escola e onde não me recordo de ver negros brincarem, rirem, namoriscarem, afinal o saudável do natural aprender para crescer. Mais uma vez eu olho o passado e acho que o quadro revela pouca ousadia da mão do seu pintor, quando se olham pormenores da espectacular paisagem. E se não era racismo, se o meu delírio já turva a verdadeira cor das memórias desse passado? aceite a hipótese de exagero sobrevém-me a outra explicação possível. As desigualdades sociais e a sua estratificação, uns cinco por cento a serem fruidores da quase totalidade da propriedade privada de valor económico, Estado excluído. Uma vez escrevi-o e vou de si, cara Teresa, pedir-lhe também ajuda para dizer-me quantos negros conheceu, chefes de família com uma vida de trabalho e dificuldades e filhos educados – a situação normal dum cidadão!..., que aos cinquenta anos e trabalhando desde os doze, negros, possuíssem o seu próprio automóvel? exagero se lhe disser que era difícil encontrar um número que conte, pouco mais que dedos que temos nas mãos? Este homem de uma vida de trabalho e de luta, digna, seria proprietário duma ‘Florett’, e não era luxo para todos os negros nestas condições. Eis a regra, no inverso víamos a baixa da cidade com engarrafamentos de trãnsito, nos carros de trabalho muitas faces negras e algumas brancas, nos particulares só se viam caras brancas. Eis a cidade, cimento, mas havia outra, maior, caniço e zinco, gente qu se levantava às cinco da manhã para apanhar o comboio e ir trabalhar na cidade de cimento, às seis os que tinham machimbombo. Lembra-se dos machimbombos Teresa? neles fiz mil e uma tropelias, esmerei-me em aprender a descê-los em andamento e em grande estilo, na vinda da escola colaborava na algazarra que, muitas vezes, levava os desesperados chofer e ‘alicate’ a levarem-no directo para a esquadra do Alto Maé pois o chapéu do cobrador tinha desaparecido. E, quando ia para a praia tentava falsificar os furinhos no passe, para que eles não faltassem depois nas viagens para a escola. Morei na Mafalala e ia muito à praia, essas carreiras de machimbombos eram-me bem conhecidas; afirmo sem grande receio de erro que, extra horas de ponta, as lindas praias que felizardos dignos de legítima inveja desfrutavam eram servidas por igual número de viaturas que os bairros residenciais da Mafalala e do Xipamanine… Sim, havia duas cidades, a de cimento, branca e com pequenas margens na sua raia onde a miscigenação acontecia mas com exclusão da raça maioritária, a negra. Havia a outra cidade, caniço, servida dos restos da outra e onde tudo faltava, saneamento fora das poucas ruas de alcatrão, electricidade para além das ruas em areia mais largas e onde estão as cantinas. Eu morava na av. de Angola e não havia na zona uma escola primária, fui para a João de Deus no Alto Maé, na orla das barreiras e a quilómetros de casa. Casa essa que era um prédio de cimento num mar de palhotas onde viviam milhares de miúdos que não iam à escola (escola aquela onde aprendi as paragens e apeadeiros da linha do Norte ou da do Tua, mas nunca a de Nampula ou de Vila Pinto Teixeira). É esta a paisagem urbana que conheci e onde fui feliz, mista, o fascínio dos prédios e das praias, também o do labirinto do caniço onde corria, ia às mangas nas costas do dono ou arrastava o meu papagaio de papel, por mim feito e sonhado alado. Na sociedade colonial os olhos não são iguais quando percorrem as avenidas traçadas a régua e esquadro, domicílio para uns e que são sempre os mesmos, visita para outros e que são também sempre dos outros. Há ser-se negro e ser-se branco, e a beleza natural ou que o Homem moldou não é servida em bandejas iguais, não me diga, cara Teresa, que paisagem e restos de bolo é igual a paisagem e refeição completa, que a partilha das benesses do viver em Moçambique era igual para todos ou não haviam mesas diferentes nas cervejarias (zonas de periferia; os negros não frequentavam as da cidade formal e por alguma razão seria), eram as do canto que ‘os pretos’ usavam. Estarei a exagerar também aqui, Teresa?
(...) O ‘movimento do 7 de Setembro’ foi um erro político total, pugnando por manter a discussão nesta esfera. O mundo nunca permitiria uma segunda Rodésia, as independências africanas sucedem-se desde os anos cinquentas com exemplos de estabilidade e outros de turvação social. Vive-se a guerra-fria e os novos países (e os antigos…) são jogados na mesa do poder global segundo os interesses dos únicos donos do jogo, as super-potências. Mas sou um optimista quando penso no ser humano e ouso citar uma Zâmbia ou um Malawi, uma Tanzânia, todos bem próximos e filhos dum colonialismo que soube extinguir-se na altura correcta, um Senegal ou até o Zaire, francófonos. Todos com os seus problemas (nacionais! eis a diferença e o problema!...), mas independências afirmadas e orgulhosas e não aquele estatuto de não sei quê que crismava as colónias de estados, cosmética falaciosa do colonialismo que em nada alterava a verdade de Moçambique ser o produtor de açúcar e ele lá custar mais do dobro do preço que custava na ‘metrópole’. O ‘7 de Setembro’ e o ’21 de Outubro’ e os seus horrores é faceta do passado que tenho pudor em comentar, por respeito às vítimas e pelos meus traumas pessoais sobre esses dias horríveis, assassinos dum futuro que se acreditava mais puro, mais solidariamente humano. Deles mantenho a convicção intacta à que, na época, em mim incuti. Que os seus fomentadores, os que viabilizaram a sua face de horror ”roçam perigosamente a fronteira que separará um sonhador dum criminoso sendo fraco argumento atenuante a inconsciência”. Aplicável a ambos os extremismos em liça. Não se desencadeiam movimentos de massas em cima de barris de pólvora sem assumir as responsabilidades do seu movimento descontrolado, necessariamente violento como o duma manada que se sente ameaçada por predadores e em tropel insensato e cego arrasa direitos, incluindo os mínimos que ao ser humano assistem, ser livre de acertar ou errar nas suas escolhas sociais e políticas, e claro que o de não ser chacinado porque tem o boné errado no estádio errado. (...) Os julgamentos populares nunca me foram simpáticos e acrescento que muito felizmente, sejam eles políticos e de fases em que os calores revolucionários inflamam o discernimento e turvam respeitos a direitos humanos elementares, ou aos de café em que se crucifica por inveja ou maldade as figuras públicas, o sucesso alheio que o nosso insucesso olha com inveja e má-fé. Tenho pejo em conjecturar sobre o que seria a minha (nossa) vida se não tivessem acontecido o “7/9” e o “21/10”, guilhotinando um ramo muito emotivo da árvore do sonho que em mim nascera e crescia, tudo na altura própria para encarnar os sonhos e antes desta velha carcaça ter assumido esta personalidade resmungona, ácida em excesso, e para eles, exageros, rogo a sua indulgência. Nos Grupos MSN e no blogue, sobre estas datas tão tristes, que me lembre, só fiz o comentário que acima linko, seco, seco como eu me sinto quando penso na leviandade da História que tão facilmente nela aceita páginas de horrores, sem um claro não que, definitivamente, nunca mais as escreva. Estão passados trinta anos mas não é essa prescrição que quero citar, é a do arrependimento sincero que sentirá quem se olha e humedecem-se-lhe os olhos quando reconhece que há cabelos brancos justificados, penitência eterna enquanto os olhos não se apagarem à luz da consciência. A única prescrição válida deverá encontrar-se aí, olhos nos olhos e no silêncio da consciência. Para os horrores das revoluções de massas, para os horrores particulares com que vamos enchendo os dias. É amargura não só duma via pois tenho um único coração para duas grandes mátrias (expressão muito feliz da minha amiga Isabella Oliveira referindo a sua dualidade de sentimentos, que eu adopto), e ele chora, resmunga ou indigna-se quando os jornais trazem sombras ao presente.
A Teresa terá sido como eu, salvas as diferenças e adiantadas as desculpas pela pretensão. Zangou-se “n” vezes com a falta de liberdade e, nos momentos de maior desconsolo pela injustiça de que se sentia alvo sonhou ver a maioridade abreviada, a libertação plena e o usufruto da sua gestão como bem lhe apetecesse – aos quinze ser livre é ser-se maior de idade… Mais coisa menos coisa terá sido assim, idem comigo e idem com todos. Duvida a Teresa que, com ou sem 25A, vencesse quem vencesse a guerra, Moçambique seria independente até final da década de setenta, bem antes dos muros ruírem? Eu era um puto, mas um puto atento às conversas ‘dos adultos’. Nem me refiro às familiares que eram quase ausentes de vertente política e, quando a abordavam, era na apologia do situacionismo; refiro-me em concreto a outras doutros meios, académico, jornalístico, cultural. Tudo proporcionalmente pois eu era um simples puto, mas sempre tive um espírito curioso e uma grande sede em aprender, aprendendo assim a questionar os chamados factos consumados da realidade. Pela minha memória desses tempos e pelo que entretanto aprendi ouvindo e lendo afirmo com boa carga de certeza que, na sociedade laurentina dos tais “anos loucos”, setentas, fim do império colonial português, não existia um sentimento de portucalidade mais forte que o ténue institucional, residual na sociedade civil e com óbvia excepção ao serviço militar que formava os seus guerreiros física, técnica e psicologicamente. A ‘metrópole’ era uma coisa distante, local da família, a terra onde viviam os políticos desconhecidos que mandavam por procuração concedida a “governadores”, também eles todos de lá oriundos e que para lá voltavam finda a ‘comissão’. Milhares de quilómetros de distância, tão excessivos que ninguém a isso conseguia fechar olhos e deixar de resmungar ao seu arcaico, caricato, ofensivo. Moçambique e os moçambicanos queriam ser independentes, incluindo-se no desejo os seus de origem portuguesa. Resta saber como seria, se pela humilhação da derrota militar ou por uma ruptura política com o fornecedor de governadores e, depois, entendimento sério e não demagógico com quem há dez anos lutava de armas na mão por esse justo objectivo. Moçambique carecia da sua independência como todas as outras colónias portuguesas, como todas as colónias do mundo. Da sua maioridade plena, não espartilhada por estatutos pseudo-especiais que são sempre subterfúgios para perpetuar o injustificável, medieval domínio dum país por outro baseados em longínquas e arcaicas supremacias de canhões e caravelas, em discutíveis superioridades culturais ou, até, de modos de vida social. Afasto a questão religiosa, repare, pois essa instituição desde os tempos dos padrões que não acerta passo com a realidade, missionária estranha que converte ateus pobres em pobres convertidos, com a bênção do conselho à resignação em vida, pois o paraíso não é terreno… Sobre a acção da Pide, como certamente compreenderá, mui diplomaticamente não vou falar mais do que já disse noutras alturas e lugares: é das tais matérias onde não aceito argumentos de defesa a comportamentos selvagens, bárbaros, sob nenhuma luz ou prisma justificáveis.
Moçambique. Repare na palavra, no seu feitiço, em como ela invoca paixões, e em como é triste ver que arrola ódios. Sabe Teresa, penso que no rol de testemunhas a seu favor há que nunca esquecer os dezoito milhões de moçambicanos lá residentes, os quatro milhões na emigração económica, e as ‘nossas’ centenas de milhar em diáspora por fortuito histórico. Todos amamos Moçambique, e todos sofremos quando ele sangra. Vou finalmente terminar. Há tantas palavras sempre por dizer quando as emoções avocadas são assim fortes… Tenho um amigo dos tempos da Mafalala que é o José Alberto Sitoe. É poeta popular, dos becos no caniço e do vinho ordinário das cantinas, amigo desde os tempos dos calções e das sandálias, pasta escolar debaixo da árvore e muitos golos em balizas que só os paus de caniço sabem desenhar no tal retrato “daqueles tempos” que gostamos de contemplar de vez em quando. Não sei se ele tem também duas mátrias ou só uma pátria. Recentemente recebi alguns poemas dele e deixo-lhe aqui um para que o leia e sinta, sinta a diferença de olhares, por favor.
Com muito carinho pela nossa terra comum, deixo-lhe a si, Teresa, um forte abraço.
Carlos Gil
Machamba
A enxada ergue-se e cai
Uma para o imposto…
outra para o mulungo…
e mais esta, também…
Uma para mim…
tantas para não sei quem…
As AK's ergueram-se e soaram
ritmadamente
José Alberto Sitoe
(*) mensagem que deixei em tréplica numa das comunidades luso-moçambicanas existentes nos Grupos MSN

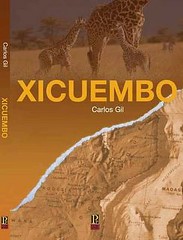


7 Comments:
* Mais se informa que NADA há de comum entre a moça a quem o Xicuembo escreve e a Teresa Delagoa (chuinga)!...- uma que ia a passar.
Sim, não pensei nisso e fizeste bem em realçar que há mais Teresas no mundo, que há olhos diferentes a olhá-lo. Conheço os teus, o Sitoe também. Um beijo dos dois.
E Mátria só tenha uma. Ela sabe qual é!
Voltei para te dizer que, quanto mais leio este texto (agora vim, via 'Água Lisa'), mais gosto dele. Está também recomendado no 'chuinga', desde esta manhã. Renovados parabéns ao autor! - muf'.
Assinando o ponto. Tenho que o ler com calma, mas vindo de ti não me surpreenderá.
E a Nossa Teresa, menina da Elisa, é inconfundível
És a minha aero-moça favorita, tia Hingá!! - muf'
Quem lê este texto,não pode ficar indiferente!Que verdades tão bem escritas!E tanto mais haveria a acrescentar...
Parabéns ao autor
ana
Bom, ao Carlos Gil conheço-o (sem o conhecer pessoalmente, tanto quanto julgo saber) porque me envia regularmente os mails de "O Macua" e tenho construído uma imagem positiva sobre a sua correcção: apreciei a sua reflexão mas terei de a voltar a ler com mais cuidado.
Á MLHingá (que jamais! pensaria vir a re-encontrar desta forma) que conheço e me conhece pessoalmente desde que eu era uma miúda de uns 9 anitos (e que é a minha catequista-quase-voadora preferida): um ganda, ganda beijo bem parapatense!!!
Enviar um comentário
<< Home